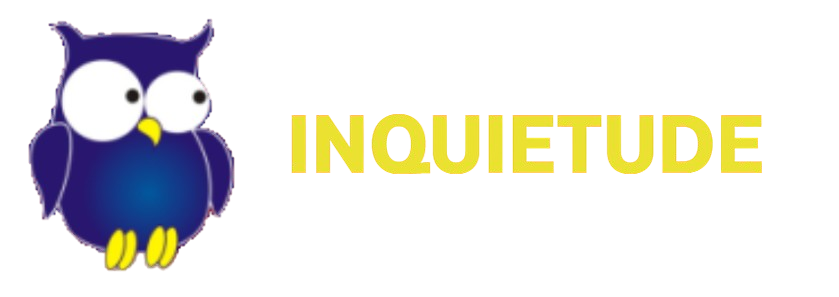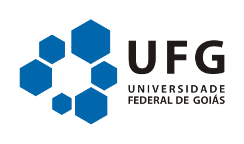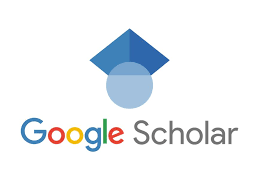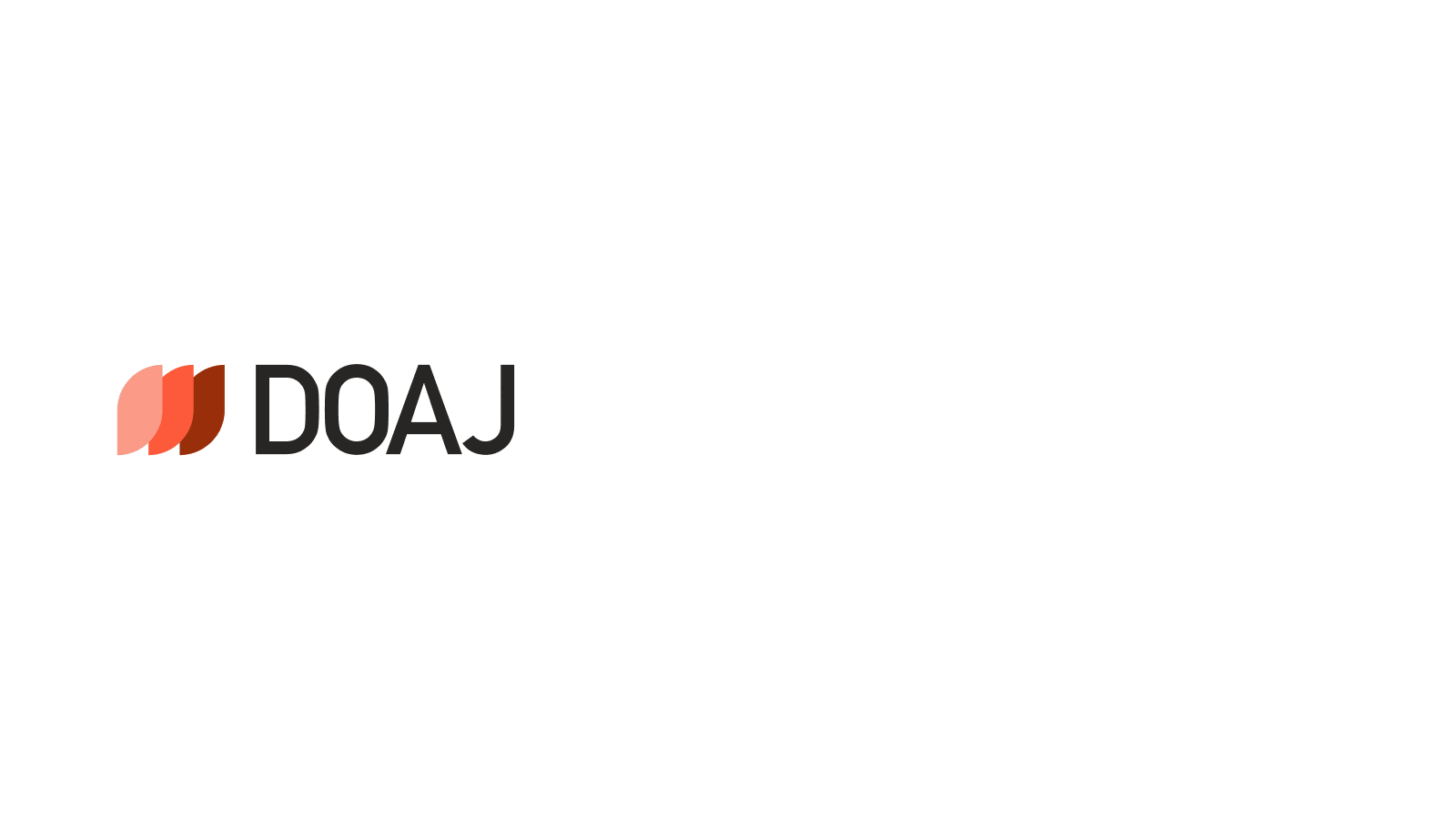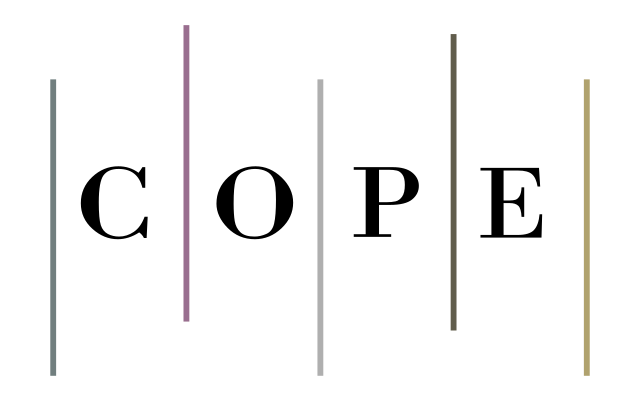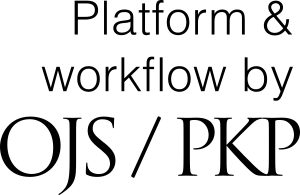Vol. 7 Núm. 1 (2016)
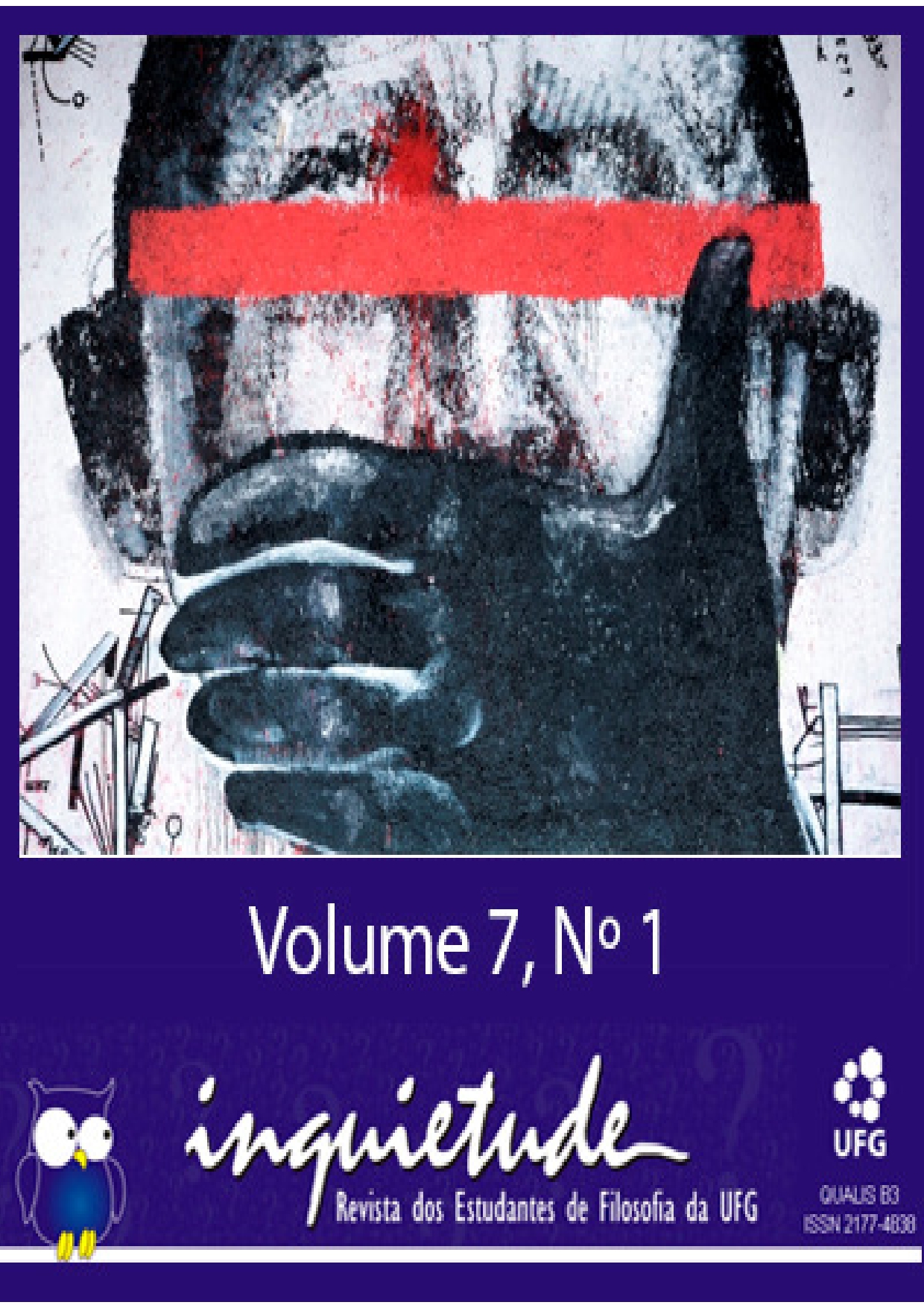
Por que escrever e publicar textos filosóficos? Tais atividades são suficientes para consolidar uma carreira em filosofia? Apenas elas, e tão somente elas, demonstram aptidão para a reflexão filosófica, um tipo de atitude que não assume o dado enquanto dado, mas que, ao contrário, se questiona sobre ele? Em um cenário no qual a própria pesquisa em filosofia e seu ensino se veem ameaçados, nos parece ser importante fazermos essas perguntas. É inclusive difícil ficarmos sentados do lado de cá, escrevendo, por exemplo, este editorial, enquanto tanto se passa lá fora, nas escolas, nas universidades, no Congresso, nas ruas. A escrita é um instrumento por meio do qual sistematizamos nossos estudos, revelamos aonde chegamos, mostrando-nos em letra. Mas nossas inquietudes, nossas pesquisas, nossas inúmeras leituras ficam todas apenas guardadas sob a égide da palavra escrita, repousada no papel? Elas não se transfiguram em vivências, quiçá em experiências fluidas no cotidiano burocrático da vida acadêmica? Certamente, para a consolidação de uma carreira em filosofia, no Brasil, é condição importantíssima apenas rechear o Currículo Lattes com publicações. Contudo, a Inquietude não surgiu para satisfazer esse tipo de ânsia. Antes, partindo do pressuposto de que para escrever textos filosóficos não é necessário possuir um currículo de erudito e que, a despeito das burocracias que se ramificam por toda a academia, engessando-a, é preciso haver espaço para o pensamento vivo, capaz de pensar a si mesmo, com afinco e comprometimento, a Inquietude surgiu e se mantém número após número publicando textos filosóficos selecionados criteriosamente por sua qualidade, e tão somente isso.
No presente número trazemos como capa a imagem de um dos grafites nos chamados “Arcos do Jânio” que causou polêmica na cidade de São Paulo. Talvez nada mais apropriado do que uma “voz” que vem das ruas para expressar o que vivemos cotidianamente. Pois, infelizmente, ainda é possível encontrar em nossas cidades vítimas de uma polêmica proibida, em uma democracia com aptidão para a intolerância, na qual ou se obedece ou coloca-se a mordaça.
Nosso primeiro texto, A cartografia do mal no pensamento de Hannah Arendt, de Flávia Stringari Machado, não está distante desse tipo de espírito de uma época. Nele, observando que Hannah Arendt reconheceu nos campos de concentração da Segunda Grande Guerra uma ruptura com a tradição, propõe-se investigar o problema do mal por meio de uma cartografia deste conceito em sua obra, uma vez que se reconhece não existir uma teoria do mal no corpo de seu pensamento. Assim, os conceitos de mal radical e mal banal são analisados e relacionados, com intuito de delimitar se são conceitos que se excluem ou não. O segundo texto deste número, A filosofia política para Leo Strauss, de Elvis de Oliveira Mendes, é uma reflexão na qual, primeiramente, busca-se uma definição sobre o que é filosofia, para em seguida se deter em um sentido stricto do que é filosofia política, configurando, deste modo, em uma abordagem autorreferencial, ou seja, a filosofia [política] pensando a si mesma.
A partir da noção de que na base da vida política está o conflito entre os desejos que mobilizam os homens, em Maquiavel, na obra Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio, investiga-se no terceiro artigo aqui publicado, Conflitos políticos e grandeza republicana segundo um enfoque de Maquiavel à república de Roma, de João Aparecido Gonçalves Pereira, a relação paradoxal entre dissensão dos humores, conflitos, liberdade e expansão territorial como algo útil para uma República. No quarto artigo, Coragem da verdade e cinismo: A filosofia do “cão” e o desfigurar da moeda, de André Luiz dos Santos Paiva, o cinismo antigo é analisado por meio do referencial teórico de Michel Foucault como algo pertinente para a filosofia contemporânea, o que se mostra através da noção de coragem da verdade, da metáfora do cão e da desfiguração da moeda, enquanto construção de um modo de vida cínico.
Com o quinto artigo, Modernidade e literatura engajada: Uma aproximação entre Habermas e Sartre, de Lennimarx Porfírio Oliveira, constrói-se uma aproximação entre a teoria da modernidade de Habermas e a noção de literatura engajada de Sartre. Por fim, nosso último artigo, O conceito de fundamentação última na fenomenologia de Max Scheler, de Daniel Branco, com escopo introdutório, a partir da obra A posição do homem no cosmos, passa pelos conceitos de alma, corpo e metafísica, para confluir em seu objetivo principal, a refutação do conceito clássico de fundamentação última e a implicação de seu novo conceito.
A Equipe Editorial agradece o apoio de seus colaboradores, do Conselho Editorial e de todas as pessoas que cooperaram e cooperam para a existência deste periódico. Desejamos boa leitura e profícuas inquietações!
Eder David de Freitas Melo