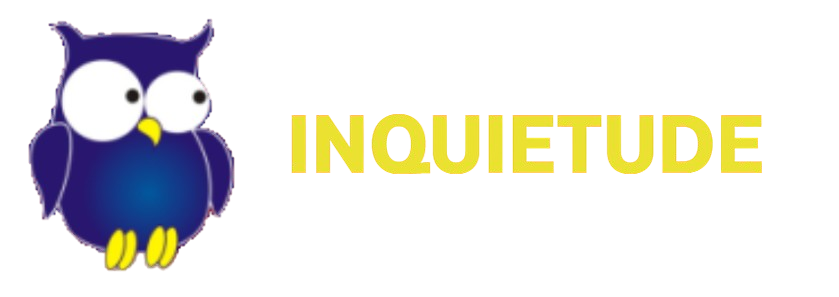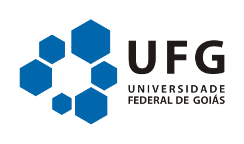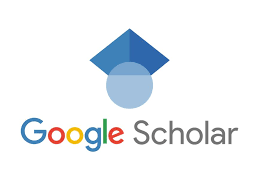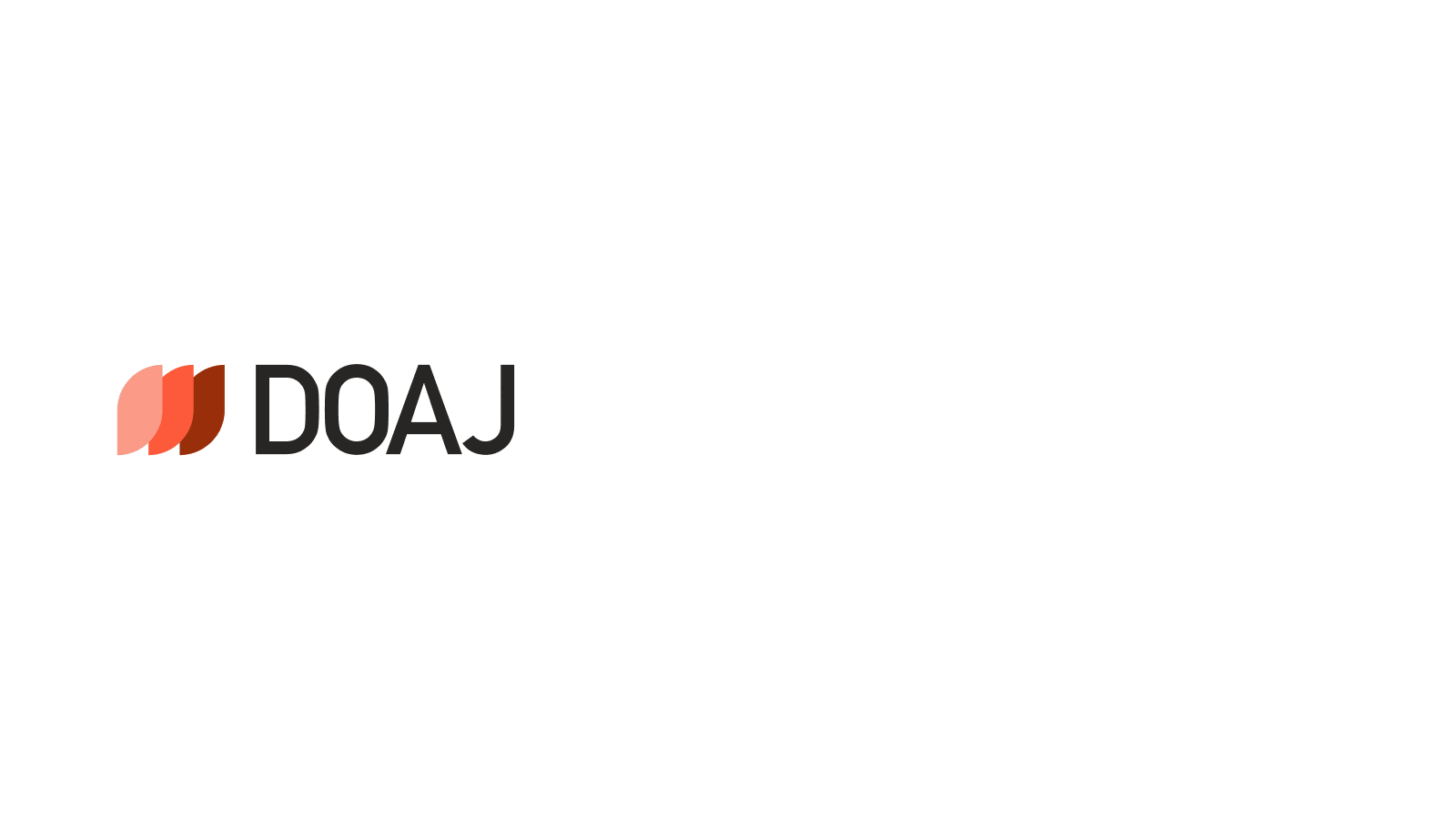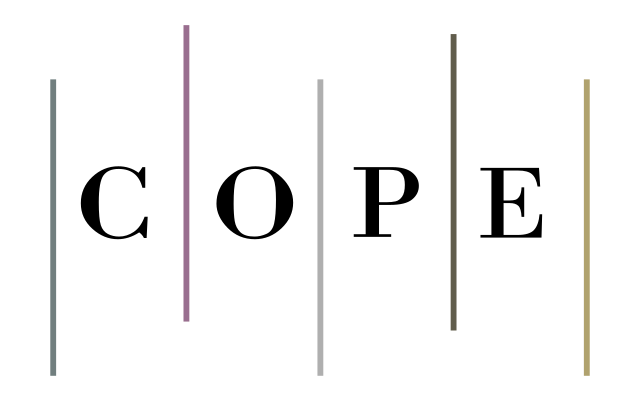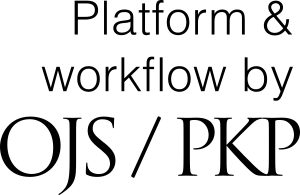Edições anteriores
-
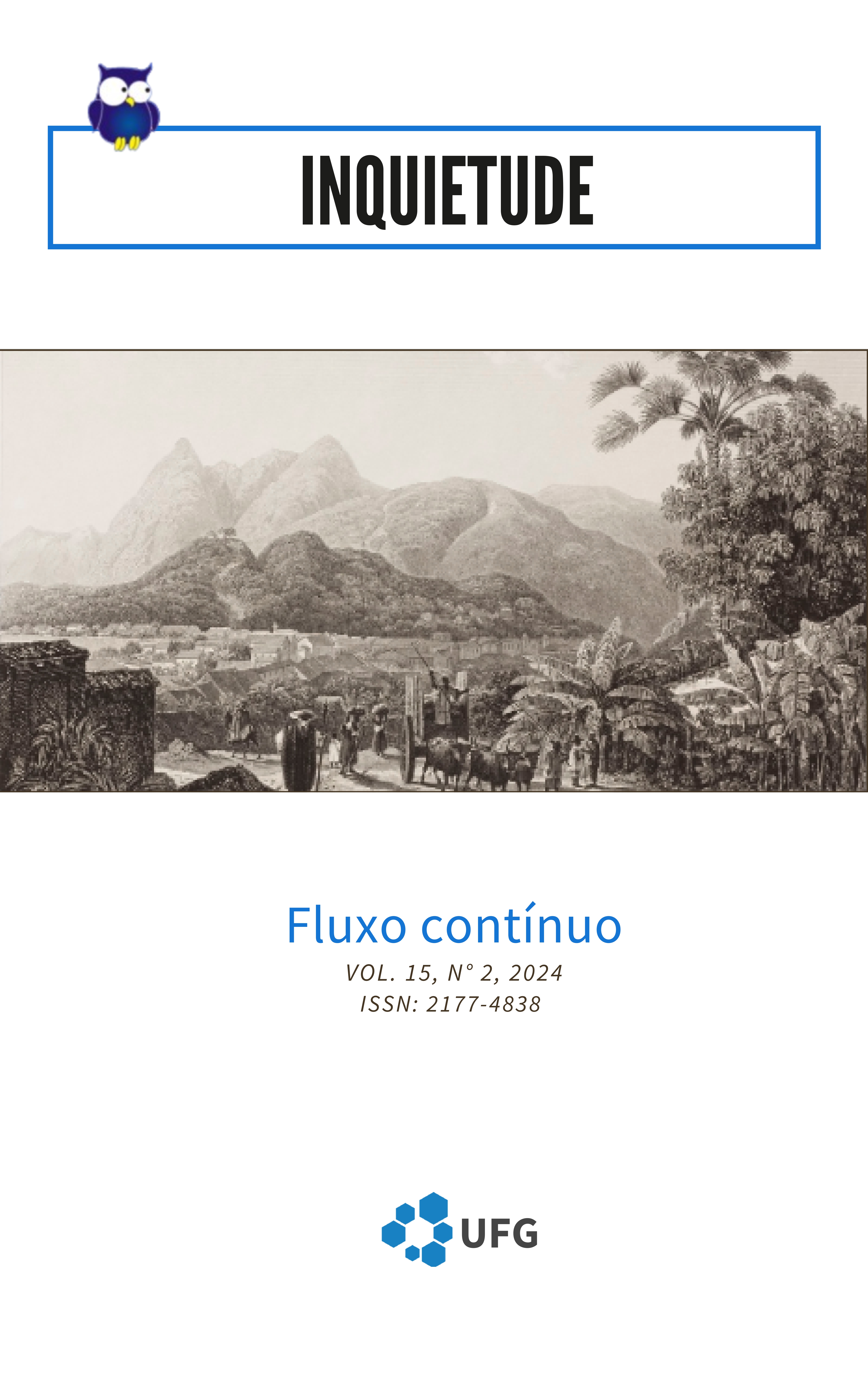
v. 15 n. 2 (2024)
Prezados/as/es leitores/as,
A Inquietude tem o prazer de comunicar à comunidade filosófica a sua mais nova edição. Os artigos publicados transitam nas mais variadas áreas da filosofia, desde temas clássicos a temas filosóficos mais contemporâneos. Nesse espírito, Bruno Queiroz discute a viabilidade de se defender a permissibilidade de certas práticas homossexuais dentro do quadro teórico da Teoria da Lei Natural. Bruno Sales objetiva pensar uma “transcendência secular” em vista de uma abertura da perspectiva humana localizada, porém, racional, usando conceitos filosóficos como a autotranscendência de Lonergan, as situações-limite de Jaspers e o incondicionado de Kant. Fernanda Cardoso explora um tema clássico da literatura filosófica ao esclarecer o significado da revolução copernicana na epistemologia e na metafísica kantianas, com uma análise focada no parágrafo 11 do prefácio da segunda edição da Crítica da razão pura. Henri São Paulo busca introduzir a tese do inferencialismo semântico, conforme desenvolvida pelo filósofo estadunidense Robert Brandom. Fechando a seção de artigos, Rayssa Medeiros salienta a contribuição de Henri Bergson e Pierre Hadot para a concepção da filosofia como prática formativa, destacando sua relação com a literatura e enfatizando a obra de Clarice Lispector. Por fim, temos a entrevista com o historiador italiano Paolo Raspadori, feita por José Antonio Colombri, em torno de questões ético-políticas emergentes da tensão entre uma divulgação histórica rigorosa e a enfeitada nas mídias digitais.
Cordialmente,
A edição.
**********************************************************************************************
CORPO EDITORIAL FILOSÓFICO-CIENTÍFICO (NOMINATA)
Bergkamp Pereira Magalhães (UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)
Bruna Morais Esteves (UFG, Goiânia, GO, Brasil)
Darley Alves Fernandes (UFG, Goiânia, GO, Brasil)
Eduarda Calado Barbosa (UNICAMP, Campinas, SP, Brasil)
Ernesto Perini Frizzera da Mota Santos (UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil)
Flavio Fontenelle Loque (UFLA, Lavras, MG, Brasil)
Gabriel de Matos Garcia (USP, São Paulo, SP, Brasil)
Giovane Martins Vaz dos Santos (PUCRS, Porto Alegre, RS, Brasil)
Harley Juliano Mantovani (CEFET, Leopoldina, MG, Brasil)
Humberto Alves Silva Junior (UNIR, Porto Velho, RO, Brasil)
José da Cruz Lopes Marques (IFCE, Cedros, CE, Brasil)
Luiz Paulo da Cas Cichoski (UFMT, Cuiabá, MT, Brasil)
Newton de Oliveira Lima (UFPB, João Pessoa, PB, Brasil)
Renan Eduardo Stoll (UFG, Goiânia, GO, Brasil)
Renato Moscateli (UFG, Goiânia, GO, Brasil)
Rodrigo Cássio Oliveira (UFG, Goiânia, GO, Brasil)
Rodrigo Poreli Moura Bueno (UFT, Porto Nacional, TO, Brasil)
-
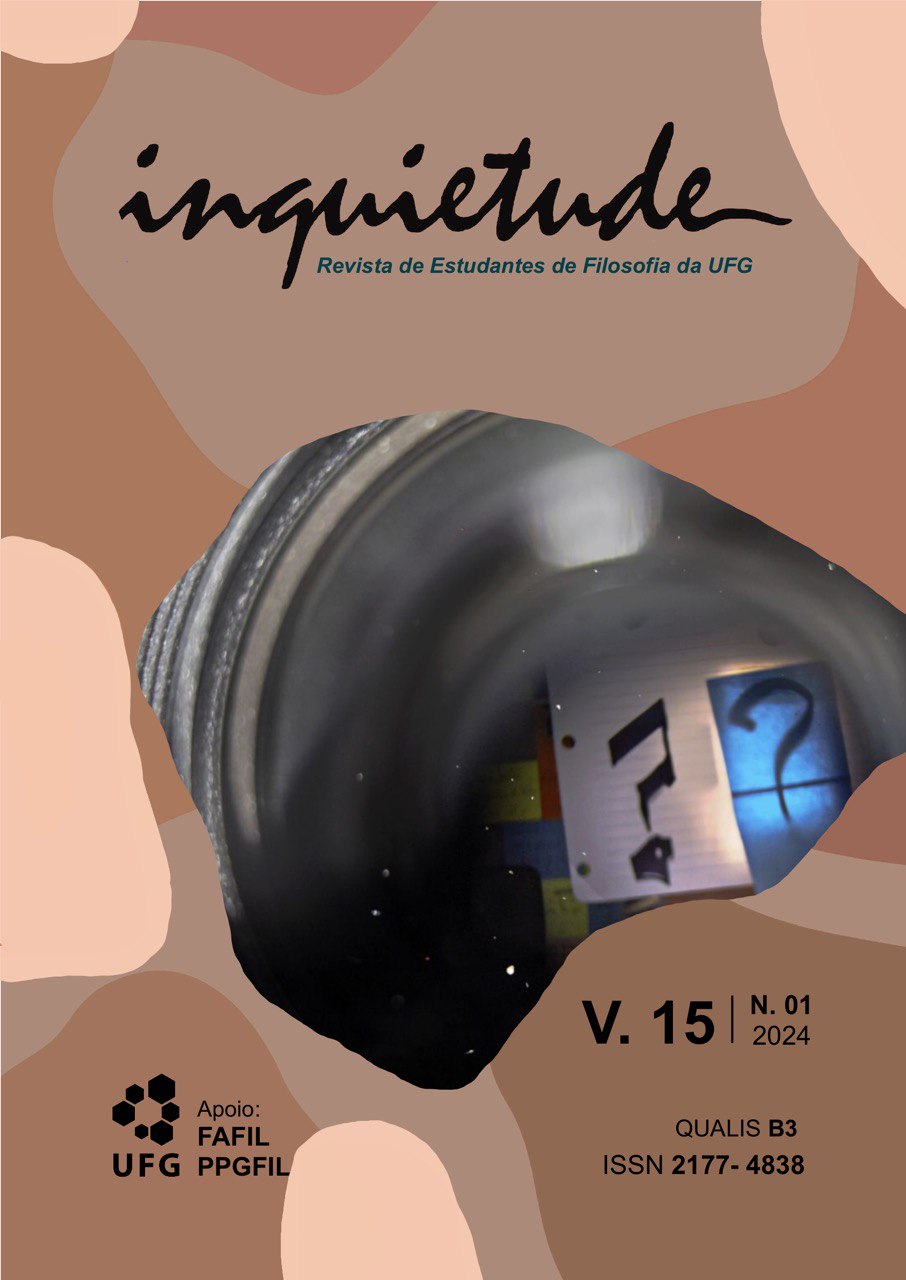
v. 15 n. 1 (2024)
Inquietude,
Se começarmos a apresentar o número pela imagem, há muito da diversidade dos trabalhos que se fortifica no Prismático do artista. Não a reflexão, mas a transformação refratária em cores de um monótono feixe de luz, pode impressionar a dúvida imbricada numa ideia – na educação, na memória, na (des)informação, no “áspero” do ensino, na tradição...
Assim sendo, a polir a dúvida no sacrilégio do vilipêndio de um cânone contemporâneo, Felipe Luiz convida à leitura foucaultiana de um Foucault que, atravessando o prisma de Certa recepção brasileira d[e sua] obra, mostra-se mais diverso e colorido que talvez apenas um feixe de seu séquito assuma válido. Na realidade, problemas centrais – de ordem política e epistêmica – parecem insurgir quando se ignora ou busca negar, ocultar, aí sim, vilipendiar a temeridade de um autor ante contradições, suas próprias...
Quanto à episteme ou, antes, o processo formativo que ela implica ou com o qual implica, Fernando Bonadia de Oliveira demonstra, com a maestria de um professor de filosofia, o “aspr’o” da sala de aula, como se fosse um sertão, cuja espinheira da Contribuição espinosana para o ensino de filosofia deixa entrever em suas veredas os “rasto” de afeto, de vida por que se formam um entendimento, uma filosofia... Prudente, porém, inquieto, não nos deixemos enganar pela ilusão do Diabo roseano na terra do sol! Rosa, mas também Espinosa têm a ensinar como a figura de um erro pode não passar de um “vespero” que nos afeta, modula nosso engenho que mói o caminho à frente, de uma (in)disciplina que necessita tempo em seu espaço, espaço no seu tempo...
De modo a abrir novos caminhos no ensino-aprendizado da filosofia prismática que propomos, João Batista Ferreira Filho nos batiza com sua inquietante análise dos “trieiros” fechados – nem mesmo descaminhos! – das bolhas digitais que inflamos, ao ponto que Fake news e agência epistêmica na política da desinformação tornam-se estratégia para minar, também enganar as mentes que não se conformam, mas que se desinformam e se deixam enformar pelo status quo, como se servissem de banquete, como o banquete mesmo de quem se deleita, e chafurda, na insalubre ecoante “opinião pública”. Uma das implicações que Ferreira Filho nos imprime é a de uma pretensa autonomia judicante do sujeito que, trágica ou comicamente, senão enquanto sátira de si mesmo, é levado a crer que sabe pela forma de sua fôrma...
Mas, bem, se tudo se resume à forma de um conjunto de memórias, experiências, abstrações... não caberia, minimamente, a dúvida como o contrapelo dessas bolhas cristalizadas em câmaras?
Ao menos essa pergunta nos faz crer necessária o trabalho aracniano de Luama Socio: o entrelaçamento de espaço-tempo na mente, em via da famigerada transumanidade, coloca-nos o desafio de lidar com novas compleições fisiopsicológicas que surgem na era das nuvens, da memória algorítmica, dos cristais de eco desinformado, aos quais escapa a filosofia que ainda duvida. Porém, com A memória n[esse] ponto de relação entre sujeito e forma, as relações parecem se dificultar no paradoxo apontado da autora, da necessidade de enrijecer a memória ante um fluxo informativo de todo refratário às tentativas de memorizar, quiçá as de relembrar uma história, a se reconfigurar a cada passo da aranha enclausurada in vitro, que busca se firmar em sua teia, à espreita de um ataque que a ajude a se alimentar, supondo consiga uma presa...
Não obstante, torna-se difícil perceber quem – ou o quê! – é afinal essa “aranha”. Contudo, não é como se não pudéssemos ver a refração multicolor dos Artigos na Resenha que nos apresenta Luan de Oliveira Vieira, da tecitura das várias formas de resistir à mera enformação do status quo, propostas na Educação e emancipação de Adorno. Aqui ganhamos novamente um vigor que nos impulsiona a romper a clausura totalitária, cujas paredes não podem ser o limite de uma vida que quer viver, não morrer sufocada, ou como vítima de um experimento baixo do controle total que, na verdade, está, ele mesmo, sujeito às crises e rupturas, quer as tenha planejado ou não...
Com o (des)prazer da dúvida,
A edição.
**********************************************************************************************
CORPO EDITORIAL FILOSÓFICO-CIENTÍFICO (NOMINATA)
André Vinícius Dias Carneiro (UFG, Goiânia, GO, Brasil)
Carlos Wagner Benevides Gomes (UEC, Fortaleza, CE, Brasil)
Cristiane Maria Marinho (UECE, Fortaleza, CE, Brasil)
Daniela Giorgenon (UNIP, São José do Rio Preto, SP, Brasil)
Emanuelle Beserra de Oliveira (UFC, Fortaleza, CE, Brasil)
Felipe Gustavo Soares da Silva (FAST, Nazaré da Mata, PE, Brasil)
Juliana Moroni (Unesp, Marília, SP, Brasil)
Marcio Francisco Teixeira de Oliveira (UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)
Marcelo Masson Maroldi (USP, São Paulo, SP, Brasil)
Pedro Rogério Sousa da Silva (UFC, Fortaleza, CE, Brasil)
-
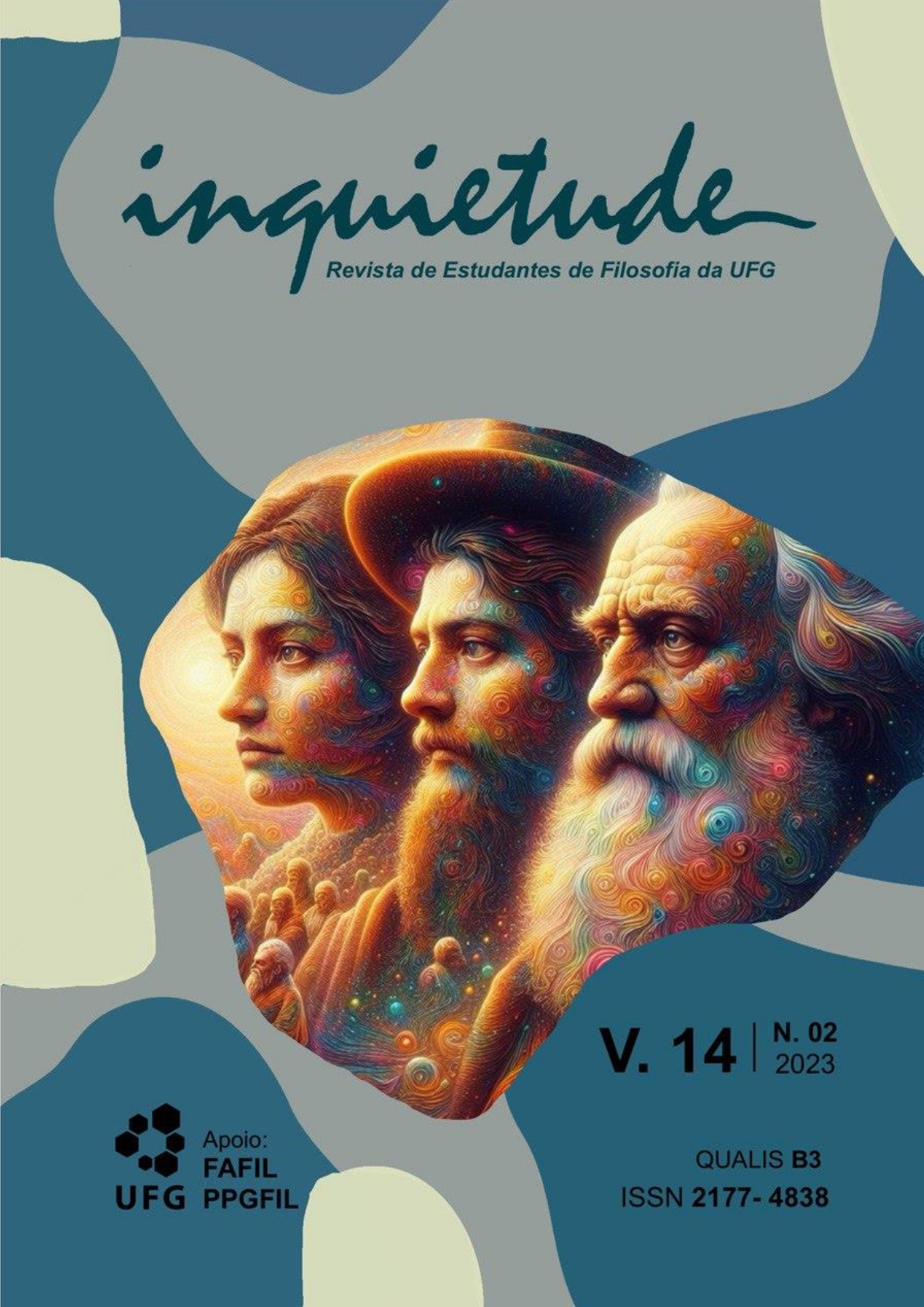
v. 14 n. 2 (2023)
Saudações leitoras/es,
A Inquietude retorna nesta nova edição com reflexões estendidas desde as reflexões do passado filosófico, bem como revisões críticas em pesquisas de fonte sobre aspectos inquietantes do nosso presente.
De início, Adelino Pereira da Silva nos joga diretamente no turbilhão reflexivo sobre do que se trata aquilo que chamamos de “pensamento pós-moderno” na história da filosofia, com seu texto Além da modernidade: Uma análise do pós-moderno na filosofia. Para isso, utiliza uma rememoração acerca do que se entende por “razão”, e como o porto mais seguro do “cais filosófico” torna-se o objeto central das críticas mais severas.
Ainda nos anseios de temas mais recentes, nos será apresentado por Aline Brasiliense dos Santos Brito como o conceito de “vontade” e “pulsão” interpelam as obras de Freud e Schopenhauer, em seu artigo intitulado Apontamentos acerca das referências de Freud a Schopenhauer: Trieb e Wille. Como ela aponta, Schopenhauer atenta-se, em parte de seus escritos, ao conceito de pulsão (Trieb), enquanto Freud, ainda que mantenha relação reticente com a filosofia, volta-se para as leituras filosóficas e com certa inspiração kantiana passa a refletir sobre a ideia de vontade (Wille).
Deixando para trás aquilo que nos está mais recente, André Pereira da Silva nos leva para junto dos antigos sábios, reavendo o impulso prático de uma filosofia ligada à vida, em suas Lições de Epicuro: A filosofia como modo de vida. É aqui que nos são apontadas percepções acerca da filosofia tomada como uma atividade voltada para a obtenção dos prazeres e à conquista da felicidade.
Avançando neste espaço-temporal filosófico, Carlos Cassiano Gomes Leite busca pensar implicações éticas e políticas através de reivindicações conceituais da obra de Spinoza, por Laurent Bove e Mark Fisher, em seu brilhante escrito nomeado de Considerações acerca de certa presença spinozista na obra de Laurent Bove e Mark Fisher. Ao apresentar a abordagem dos autores mencionados a conceitos como “projeto autônomo da multidão” e o conceito spinozano de “entidade”, Carlos Leite busca interpelar a obra de ambos para pensar a política como uma potência de força institucional inalienável.
Ao fim de nossa jornada, Lucas Ribeiro Vollet nos propicia um artigo escrito em língua inglesa, nomeado de Examining ideological premises in Frege’s semantics: An investigation of some standards of uniforming thinking about meaning in the beginnings of analytic philosophy. Ao nos trazer de volta para os pressupostos históricos que influenciaram os embates reflexivos do primeiro artigo, Lucas Vollet retoma observações acerca das influências filosóficas atribuídas a Frege, diante da primeira fase da filosofia analítica, compreendendo como as concepções da atribuição de valores de verdade baseada em parâmetros semânticos congregam em harmonia com as perspectivas sociológicas populares relativas à comunicação e compreensão daquilo que é comunicado.
É com o prazer das tremulações de um barco em meio às ondas de um vasto oceano que encaramos tais artigos, pulando de eras em eras no intuito de investigar acerca de temas voltados tanto para a análise conceitual quanto para as implicações práticas da vida humana, que incontestavelmente, são permeadas pela filosofia.
Atenciosamente,
A edição.
**********************************************************************************************
CORPO EDITORAL CIENTÍFICO (NOMINATA)
Alessandro Bandeira Duarte (UFRRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)
Bruno Abilio Galvão (UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)
Cristiane Maria Marinho (UECE, Fortaleza, CE, Brasil)
Cristiano Bonneau (UFPB, João Pessoa, PB, Brasil)
Diogo Barros Bogéa (UERJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)
Dirceu Arno Krüger Junior (UFPEL, Pelotas, RS, Brasil)
Douglas Moisés Pinheiro Carré (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil)
Eduardo Carli de Moraes (UFG, Goiânia, GO, Brasil)
Evandro Carlos Godoy (IFSul, Sapucaia do Sul, RS, Brasil)
Felipe Assunção Martins (UFG, Goiás, GO, Brasil)
Helrison Silva Costa (UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil)
José Francisco de Andrade Alvarenga (PUC-Rio, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)
Karen Elena Costa Dal Castel (UFSC, Florianópolis, SC, Brasil)
Marcos Adriano Zmijewski (Unespar, União da Vitória, PR, Brasil)
Marcos Roberto Damásio da Silva (UECE, Fortaleza, CE, Brasil)
Matheus Romero de Morais (USP, São Paulo, SP, Brasil)
Sérgio Mendonça Benedito (USP, São Paulo, SP, Brasil)
-

v. 14 n. 1 (2023)
A Inquietude vem brindar à transição de um novo momento com este número que, filosoficamente, leva-nos pelos (des)caminhos do fenômeno cultural.
Iniciamos a trajetória com uma abordagem hegeliana da consciência que permite desbravar horizontes talvez antes não vistos junto à arte japonesa: o trabalho de Francisco Elton Martins de Souza e Matheus Tomaz Maia mostra como isso se efetiva no jogo alquímico da verdade de Fullmetal Alchemist.
Após um contato com o simbolismo da verdade transmutada, nada mais encorajador que a trilha de leitura do Ensaio sobre o homem de Cassirer proposta por Franscisco Gustavo de Souza Flor, a confrontar signos humanos de cultura e suas particularidades vitais.
Nesse agonismo simbólico, a vida passa a carecer de sentido, com o risco de uma linguagem que não mais sirva à vitalidade comunicativa: a isto a ética do Discurso de Habermas propõe uma solução que Gabriel Andrade Coelho Moreira nos apresenta de forma bastante vivaz, na tentativa de recobrar o mundo da vida de uma racionalidade patológica.
Como num passe não tanto de mágica, mas de reflexão filosófica, Lana Helena da Silva dos Santos retoma o ativo empreendimento de Hannah Arendt de recuperar sentidos para uma atividade política que não pretenda reduzir-se à mera contemplação de “passes de mágica”, mas de uma transformação de forças que reestruturem os modos de cultivar e cultuar o mundo.
Por fim, nessa aventura meio ao terreno pantanoso da atividade (in)consciente, Luiza Aparecida Bello Borges leva a pessoa que se dispôs a desbravar esses (des)caminhos – com a Inquietude – a uma tentativa de (re)assentar valores à maneira ético-fenomenológica de Husserl e Max Scheler.
Para apreciação de um resultado formativo da cultura (humana), até o momento, então, a Inquietude sugere o artifício de uma I.A. generativa capaz de (re)combinar símbolos de uma Alquimia arquetípica do poder cultural da consciência...
A edição.
**********************************************************************************************
CORPO EDITORIAL CIENTÍFICO (NOMINATA)
Adriana Carvalho Novaes (USP, São Paulo, SP, Brasil)
Adriano Ricardo Mergulhão (UEL, Londrina, PR, Brasil)
Aline Matos da Rocha (UnB, Brasília, DF, Brasil)
Ana Carolina Borges de Lacerda (UEG, Inhumas, GO, Brasil)
Bergkamp Pereira Magalhães (UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil)
Caius Cesar de Castro Brandão (UFG, Goiânia, GO, Brasil)
Carla Vanessa Brito de Oliveira (IFBA, Santo Amaro, BA, Brasil)
Claudio Alexandre Figueira Gomes (UFG, Goiânia, GO, Brasil)
Darley Alves Fernandes (UFAL, Maceió, AL, Brasil)
José Luiz de Oliveira (UFSJ, São João del-Rei, MG, Brasil)
Lucas Nogueira do Rêgo Monteiro Villa Lages (UFPI, Teresina, PI, Brasil)
Mariana de Mattos Rubiano (Unifesp, São Paulo, SP, Brasil)
Rafael Rodrigues Garcia (Unicamp, Campinas, SP, Brasil)
Renato Moscateli (UFG, Goiânia, GO, Brasil)
Tessa Moura Lacerda (USP, São Paulo, SP, Brasil)
William de Siqueira Piauí (UFS, São Cristóvão, SE, Brasil)
-
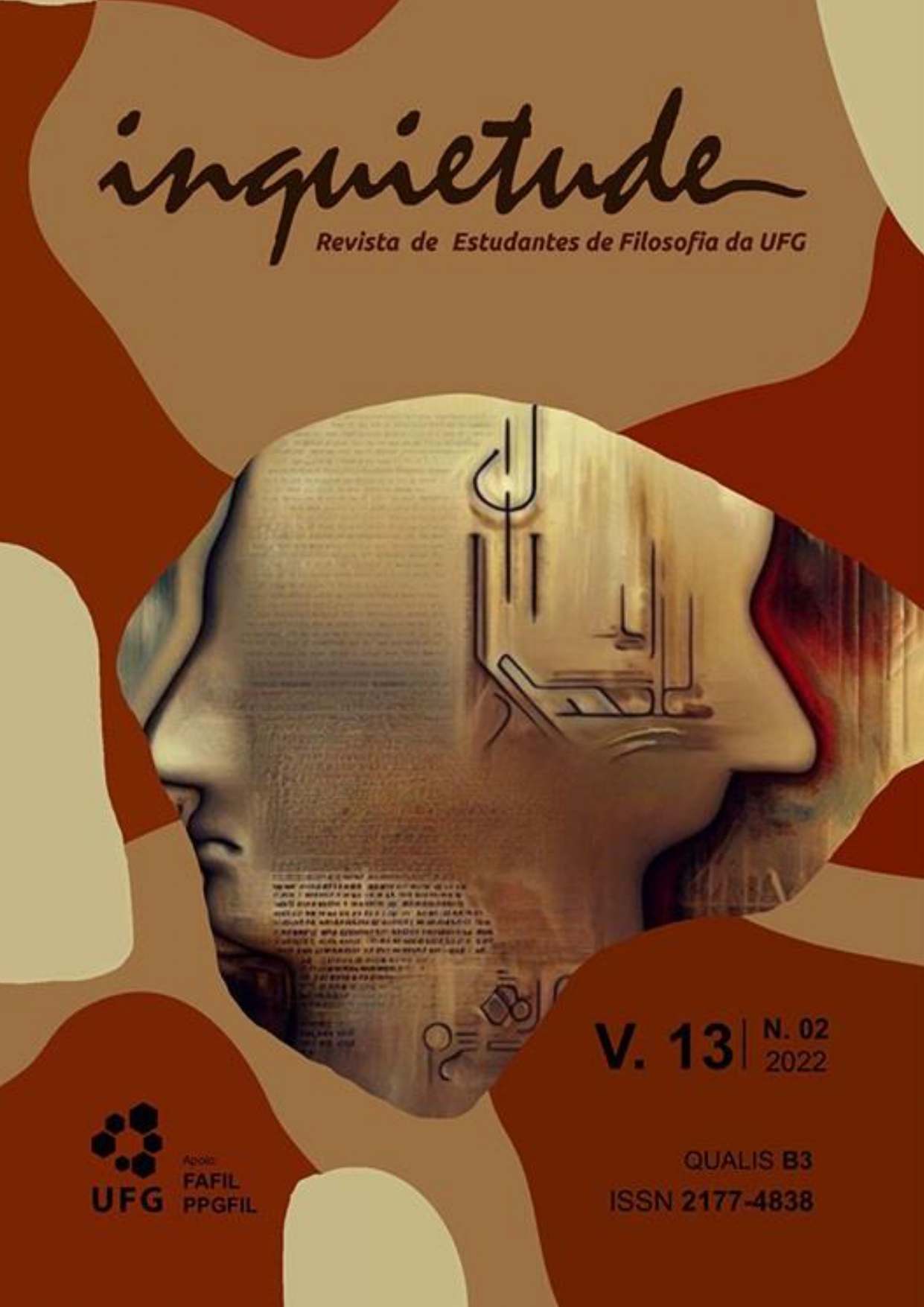
v. 13 n. 2 (2022)
Com alegria e leveza a Inquietude traz a público o número que marca o encerramento de uma crise. Mas quando se trata de subjetividade, do pensamento, da história, orientação e linguagem humanas, quão plausível é falar em ausência de crises?
Parece uma pergunta premente, que subjaz e se deixa entrever no presente número.
Sobre Linguagem, regra e comportamento, João Henrique Lima Almeida debruça-se com as considerações de Wittgenstein do alcance linguístico através de uma prática que exprime o ânimo de uma simbologia própria.
Em seguida, Rafael dos Santos Ongaratto apresenta a temática, que não sofre de obsolescência, das condições de conhecimento e recupera uma forma kantiana de lidar com a necessária incongruência relacional do corpo humano.
Sem mais, Shênia Souza Giarola traça os pontos em que Francesco Guicciardini e Nicolau Maquiavel entram em (des)acordo quanto à humana divina fortuna das formas históricas de governo.
Além do que Victor Fiori Augusto mostra ainda modos da corruptibilidade de noções como a maquiavélica (des)igualdade, sem a qual não parece haver política, ousando refletir o Brasil agora.
Por fim, está por existir uma maneira menos inquietante de terminar (de começar) a perturbadora abordagem da presente publicação, que não através da assimetria ética levinasiana e o aterrador conto de Clarice Lispector, proposta pela leitura de Wellington Monteiro.
A princípio, poder-se-ia pensar que há uma tremenda incoerência temática que paira neste número da Inquietude, embora nossa proposta seja de apontar como essa diversidade de pontos de vista encontra alguma harmonia entre as fissuras, nem que seja a harmonia de uma crise.
Nesse sentido, convidamos a pessoa leitora, ainda, a contemplar a imagem crítica de capa criada artificialmente por uma inteligência tanto quanto ou tão mais capaz de encontrar subsistência icônica numa brainstorm, qual a fórmula Symbolic alterations of the human history throughout the political language of conscience.
A edição.
************************************************************************************************
CORPO EDITORIAL CIENTÍFICO (NOMINATA)
Acríssio Luiz Gonçalves (UNA; UniBH, Belo Horizonte, MG, Brasil)
Flavia Roberta Benevenuto de Souza (UFAL, Maceió, AL, Brasil)
Grasiela Cristine Celich (UFSM, Santa Maria, RS, Brasil)
Hans Christian Klotz (UFG, Goiânia, GO, Brasil)
Helena Esser dos Reis (UFG, Goiânia, GO, Brasil)
Lucas Gabriel Feliciano Costa (UFG, Goiânia, GO, Brasil)
Paulo Henrique Silva Costa (CEFET, Varginha, MG, Brasil)
Pedro Augusto Pereira Guimarães (UFMG, Belo Horizonte, MG, Brasil)
Renato Moscateli (UFG, Goiânia, GO, Brasil)
Thiago Suman Santoro (UFG, Goiânia, GO, Brasil)
-
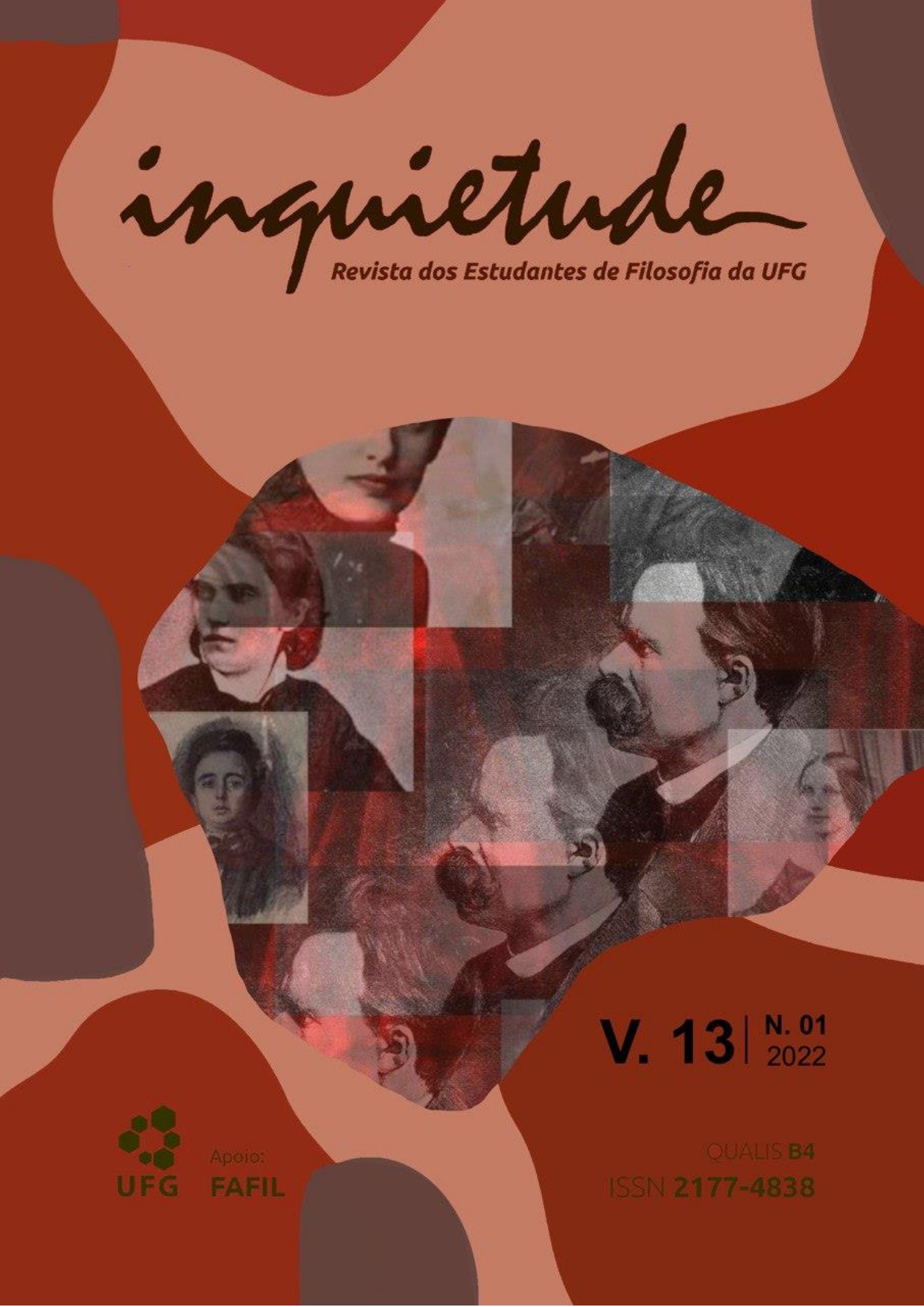
Dossiê Nietzsche e o Feminino
v. 13 n. 1 (2022)A indiana Gayatri Spivak, em 1985, no livro intitulado Pode o subalterno falar? denuncia o silêncio compulsório na vida das pessoas colonizadas. Naquele momento ela tratava, sobretudo, dos sacrifícios impostos às viúvas. Contudo, o silêncio é uma sobrecarga colocada praticamente em todos os corpos subvalorizados, como se o que eles tivessem a dizer não precisasse ser dito, porque, afinal, falariam sobre aspectos de suas insignificâncias. Conforme tal avaliação preconceituosa, eles deveriam apenas escutar e obedecer. Atualmente, ao menos na realidade brasileira, conhecemos a má avaliação atribuída às vozes de pessoas subalternizadas a partir do termo “mimimi” ou “vitimismo”. Assim se tenta ridicularizar o que é dito por mulheres, pessoas negras, pessoas com deficiências, crianças, pessoas mais idosas etc. As reiteradas tentativas de silenciamento das pessoas que foram subalternizadas é um funcionamento psíquico e político proveniente do autoritarismo covarde de quem se autointitula superior. No que tange o ensino universitário nem sempre é diferente. Professoras e professores falam, escrevem e publicam. Estudantes escutam e, no máximo, reproduzem o que ouvem e leem nas atividades que precisam realizar para aquisição de notas e títulos. Não obstante, a Inquietude nasce como a voz de estudantes da Faculdade de Filosofia da UFG que também quiseram publicar o que estudavam, ao invés de estudarem apenas para prestação de contas. E isso se deu antes mesmo da exigência de publicação para que até mesmo estudantes passassem a buscar pontuar seus currículos.
Neste número, a Inquietude apresenta mais uma vez o que estudantes de graduação e de pós-graduação estudaram em disciplinas do curso de Filosofia, na graduação e na pós-graduação, mais especificamente, em disciplinas ministradas pela professora Adriana Delbó a respeito da inserção do que Nietzsche escreve sobre as mulheres no trâmite filosófico para criação de ideais, verdades e subalternidades. As mulheres enquanto gênero inferiorizado pela tradição patriarcal é aqui o tema principal dos artigos publicados.
A doutoranda Luciene Marques de Lima, a partir de Nietzsche, escreve sobre a problemática em torno das possibilidades de vivências necessárias às mulheres para “tornar-se o que se é”, em contraposição à normatividade do gênero denunciada por Judith Butler. Lucas Romanowski, também pós-graduando, apresenta como Nietzsche avalia como diminuição da mulher a exigência masculina de construção da mulher em si, para atender à sua demanda de cientificidade. Patrícia Bagot de Almeida questiona a relação (ou a ausência de relação?) entre direito, poder e feminismo, se pautando em sua pesquisa de mestrado, mas também em seus estudos sobre Carol Smart, para dizer de um limite da ‘justiça’ no que diz respeito a problemas específicos das mulheres. Kamilly Barros de Abreu Silva se movimenta entre passos de “mulher” para tratar de necessárias desconstruções e novas perspectivas para o feminismo, tendo como apoio Nietzsche, Butler e Derrida. A doutora Cristiane Marinho retoma sua leitura do livro de Scarlett Marton, Nietzsche e as mulheres: Figuras, imagens e tipos femininos, junto ao que acompanha da pesquisa de Adriana Delbó, para apresentar a diversidade que enxerga possível para indagar o conservadorismo e as contribuições para a emancipação feminina na obra de Nietzsche. Além disso, o mestre em Filosofia Igor Freitas Martins propõe uma vigorante interpretação do aforismo 86 de Além do bem e do mal em seu artigo As mulheres, o ideal e o espelho em Nietzsche.
Júlio César Freitas, bolsista PIBIC orientado pela professora Adriana Delbó, antes mesmo de ingressar na pós-graduação, já apresenta um artigo no qual sistematiza sua compreensão de que, no caso de Nietzsche, não se trata de ataque às mulheres, mas da análise da origem do gênero inserida na crítica nietzschiana à metafísica. Também como resultado da pesquisa no PIBIC, Juliana Mamede Melo, junto a sua orientadora, desenvolve um artigo no qual analisa aforismos sobre as ideia de mulher na obra A gaia ciência.
Por fim, este número da Inquietude é um convite para que possam acompanhar as elaborações acadêmicas de estudantes, pesquisadoras e pesquisadores que se deram o poder de pensar, falar, escrever e publicar. Que a leitura destes artigos possa contribuir para que o ensino e a pesquisa em Filosofia deixem de criar subalternidades.
Adriana Delbó
-
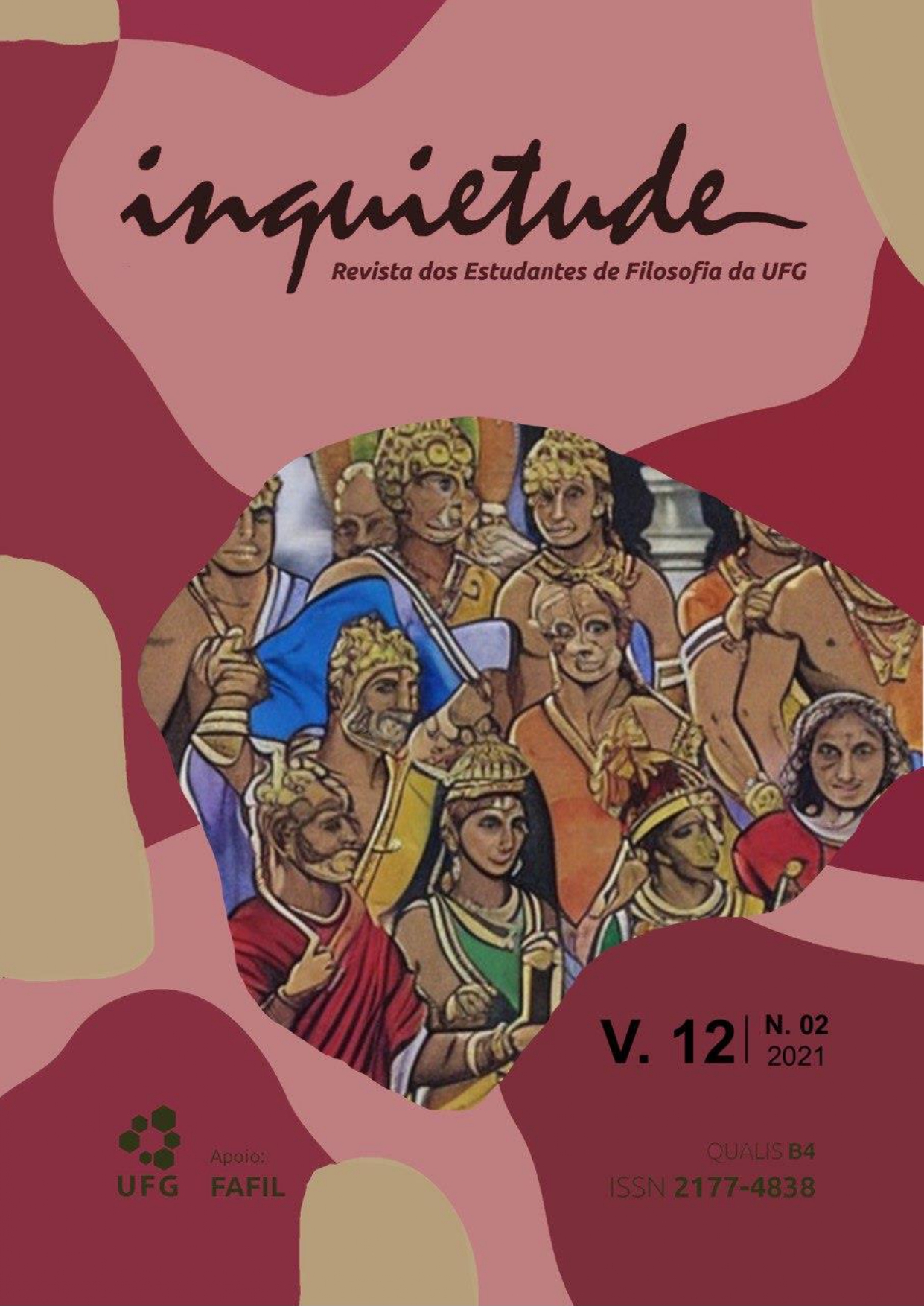
v. 12 n. 2 (2021)
A Inquietude apresenta à comunidade acadêmica, e a todo o público interessado, o seu mais recente número. Trata-se de uma edição com um amplo leque de temas. Os artigos aqui reunidos transitam entre autores consagrados da filosofia, releituras clássicas e abordagens não tradicionais que revelam o quão profícuo se torna a união entre o rigor e a criatividade.
Este novo volume também demarca uma nova fase nas publicações da Inquietude. A partir de agora, os artigos a serem publicados não mais estarão em fila de espera, desde que aprovados, para a publicação de todo o volume. Em outras palavras, prezando pelo acesso de nossos leitores aos textos a serem publicados, não será mais necessário esperar até o final do semestre para que o volume completo seja publicado - ao longo do período da edição de um novo volume, os artigos aprovados serão disponibilizados de imediato.
Agradecemos a leitura e a confiança em nosso periódico.
Arthur Brito Neves
João Pedro A. Campos -
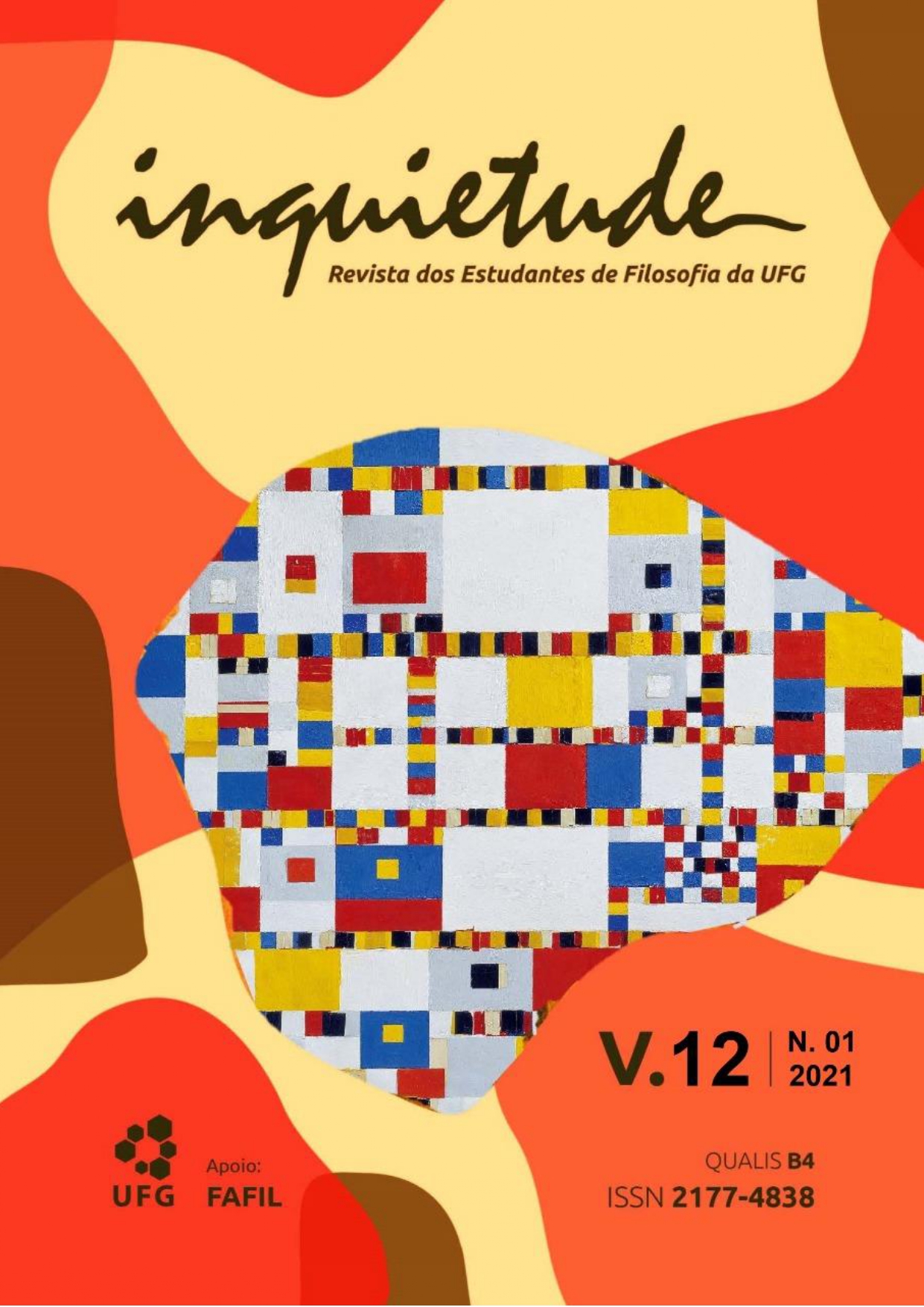
v. 12 n. 1 (2021)
Apesar de ainda estarmos enfrentando um momento de dificuldade, tanto do prisma político quanto do prisma ético, econômico e social, é com grande prazer e satisfação que a Inquietude lança seu mais novo volume. Nesta nova edição, temos como foco investigações relacionadas a área da lógica, porém, nela o leitor também encontrará textos relacionados a outras áreas, como a própria política.
Este volume abre com o artigo intitulado O estatuto ontológico-epistêmico das verdades eternas cartesianas onde Rafael dos Santos Ongaratto pretende investigar a tese de Descartes da criação divina das verdades eternas e como tal criação pode determinar a natureza metafísica e epistêmica de tais verdades. Além disso o autor procura fazer uma sondagem dos possíveis problemas relacionados a tal ideia e, também, propor uma interpretação epistêmica através da noção de “verdade contingente a priori”, noção esta que foi desenvolvida posteriormente por Saul Kripke para a lógica modal.
Em Entre “diferença” e “desigualdade”: A transversalidade do conceito de igualdade em Rousseau, João Pedro Andrade de Campos deseja distinguir, conforme o próprio título diz, as noções de diferença e desigualdade no pensamento de Rousseau. Tal distinção é importante para demonstrar os contrastes nos conceitos de estado de natureza e de sociedade civil. Além disso, ao realizar tal distinção, o autor se guia pela ideia de igualdade. Por fim, nota-se que através da aproximação dos homens surge a comparação e que, através das diferenças encontradas em tais comparações, surgem também as desigualdades, e que o contrato – realizado através da voz da vontade geral – tenta amenizar tais desigualdades.
Em O momento da subsunção como fatalidade, os Grundrisse (1857-58) de Karl Marx em perspectiva, Victor César Fernandes Rodrigues tenta elucidar a categoria da subsunção usando os Grundrisse, abordando o tema do trabalho e sua crítica. Através de tal análise, Rodrigues constata que o valorar a subsunção como uma categoria teórico-ontológica é de importância primordial, pois ela garante que o indivíduo, isto é, o sujeito humano, não seja reduzido a mero trabalhador. Com isso, o autor analisa que, no capitalismo, o indivíduo não trabalhador é um não-ser no sistema do ser, ou seja, do capital. Deste modo, a crítica de Marx não é sobre o trabalho em si, mas sobre o trabalho tal como assumido no capitalismo, onde os sujeitos são reduzidos a meros produtores de mercadorias.
Já em O conceito de “número real” em Frege, Caio Bismarck Silva Xavier busca definir e abordar os números reais no pensamento de Frege, mais precisamente na Parte III do Volume II de sua obra intitulada Leis básicas da aritmética, onde o filósofo alemão apresenta tanto sua crítica à definição de número real vigente em sua época quanto a sua própria definição. Tal abordagem demonstra a importância que a noção de “proporção de magnitude” desempenha em tal definição. No entanto, em seu texto, Xavier não pretende analisar a apresentação formal (com exceção de sua crítica ao formalismo) da teoria dos números reais, onde Frege apresenta em detalhes sua crítica das teorias anteriores, mas antes, ele investiga a apresentação informal, onde o filósofo apresenta a sua própria definição.
Por fim, nossa edição finaliza com o artigo intitulado Qual o conceito de analiticidade criticado por Quine em Dois dogmas do empirismo?. Ozeias F. Rodrigues pretende investigar – conforme o título sugere – a noção de analiticidade presente em algumas passagens-chave na obra Dois dogmas do empirismo do filósofo Quine. Tais passagens oferecem, nas palavras do próprio Rodrigues, modos proveitosos de ler textos filosóficos, pois através desta noção entenderemos que muitos problemas filosóficos podem ser respondidos quando se compreende o significado de determinados termos ou frases de um autor, seus contextos interno e externo (como possíveis interlocutores, etc.), e também, a leitura dos comentadores.
Apesar de estarmos nos limites do ano de 2021 e de ainda estarmos vivendo tanto em um contexto pandêmico incerto quanto em um momento onde a ciência – em especial as ciências humanas, como a Filosofia – enfrenta a falta de apoio dos nossos governantes e, principalmente, o negacionismo, estamos felizes de podermos concluir este mais novo volume, pois ele demonstra que tais obstáculos não podem calar a voz do pensamento crítico, da reflexão, da análise, em suma, do pensamento científico. Como a maioria dos artigos da presente edição possui foco na área da lógica, escolhemos uma obra intitulada Victory boogie-woogie do pintor holandês Piet Mondrian para a capa. Esperamos que a leitura de tais textos se mostre proveitosa.
A Equipe Editorial da Inquietude.
Brenner Brunetto Oliveira Silveira
Sabrina Paradizzo Senna -
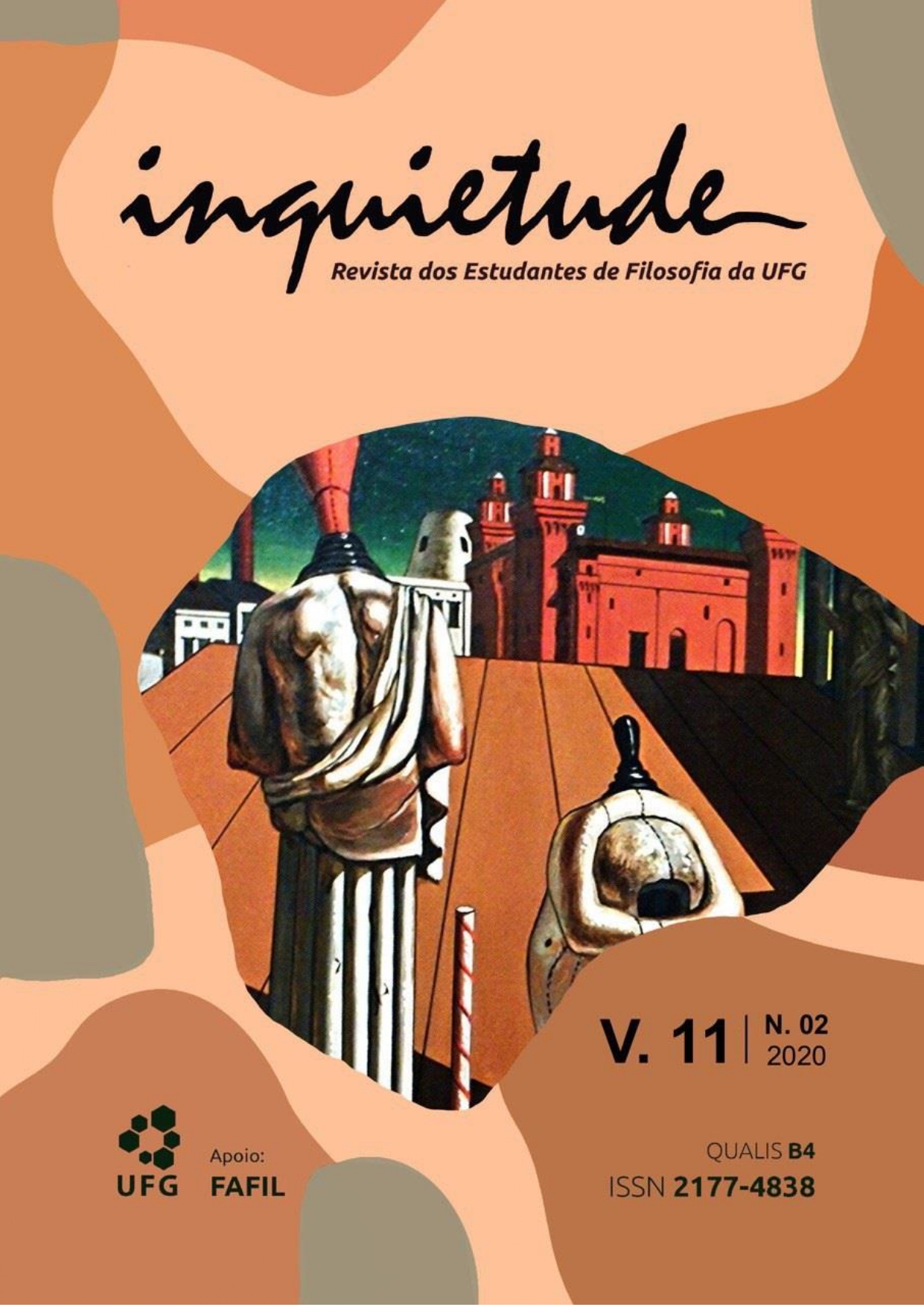
v. 11 n. 2 (2020)
Os desafios enfrentados para a manutenção de um periódico de humanidades são inúmeros e continuamente reforçados por políticas que irresponsavelmente desconsideram a importância social das ciências humanas; com a revista Inquietude não é diferente. É considerando o contexto político que a entrevista com Heitor Pagliaro, atual editor executivo da Inquietude, nos comove e nos inquieta. Desde a sua criação – ele diz –, a revista busca ser um lugar de fala, um espaço que é importante inclusive para o desenvolvimento das demais ciências: “se quisermos que a ciência brasileira tenha maior competitividade internacional e que as revistas brasileiras tenham maior ‘fator de impacto’, precisamos valorizar o trabalho de editoração científica feito no país, com financiamento e infraestrutura”. Heitor Pagliaro, que acompanha a revista desde sua criação, encerra as comemorações pelos 10 anos da Inquietude.
Os artigos desta edição têm como escopo os temas da metafísica e da teoria do conhecimento. Quem abre a nossa série de artigos cuidadosamente selecionados é uma mulher, Tatiana Betanin, trazendo A compreensão heiddegeriana do conceito de metafísica. Ainda que ela trabalhe com termos específicos, a compreensibilidade do texto é louvável. Tatiane Betanin, ao mesmo tempo em que destrincha e alinha conceitos, questiona formulações. Esse movimento lhe permite, junto a Heidegger, responder à equação meta + física, cujo resultado é a própria filosofia. Além da exímia explicativa, ao conceituar a metafísica segundo Heidegger, o ponto alto da autora está na reavaliação do que seja o filosofar. A ideia de estranhamento, espanto ou, como ela coloca, a inquietação, é a ferramenta necessária “para filosofar nesses novos tempos”.
A discussão sobre Heidegger retorna no artigo de Raphael Pegden, agora focada numa crítica à metafísica da substância e à metafísica do sujeito, que acompanha uma crítica às teorias do conhecimento de Descartes, Kant e Husserl. A destruição da história da ontologia, proposta po Heidegger, diz de uma ontologia que obscurece a pergunta originária sobre o ser. A ontologia fundamental se apresenta, então, como plano de fundo de toda ontologia e ressurge mediante essa destruição do que foi petrificado pela história. Retraçar o caminho percorrido pela história da filosofia é fundamental para fundamentar essa crítica, e ao fazê-lo, Raphael Pegden delineia o abismo entre a ontologia fundamental e o que Descartes propõe como ontologia no cogito, onde o ser da substância não pode ser conhecido. A res extensa não resolve o problema para Heidegger, pois permanece a questão da presença e dos entes intramundanos. Assim, “a crítica de Heidegger consiste então em mostrar que o espaço não é um lugar e que o mundo não é um objeto [...]: todos nós existimos de tal forma que somos num mundo, afirma Heidegger”. A crítica a Kant se formula a partir desse mesmo ponto: o sujeito transcendental pressupõe o sujeito como fundamento epistemológico para a problemática, esquivando-se ao ser-no-mundo, ou ser com o mundo.
A próxima questão que trazemos diz respeito ao filósofo Schopenhauer. Em A incorporação da ideia platônica no sistema metafísico de Schopenhauer, Jefferson Teodoro amplia conceitos importantes da metafísica e, ao mesmo tempo, dedica-se a detalhes importantes para a elaboração de seu argumento. Pontuando os pormenores da teoria platônica e das evidentes diferenças no modo de fazer filosofia, o autor vai do princípio da razão, contido na Ideia platônica, ao materialismo racionalizante de Kant. A conexão entre Platão e Kant dá-se, segundo Schopenhauer, pela relação entre Ideia e a coisa em si, mas a superação da leitura kantiana de Platão é a grande virada do texto. No conceito de impulso cego da Vontade, o autor mostra como a Teoria das Ideias de Platão também está alheia ao princípio da razão. O novo sistema proposto por Schopenhauer fica assim fundamentado, e a representação imediata, ou seja, aquela livre do princípio da razão, leva o texto para uma discussão sobre o belo.
Já Douglas de Jesus, em Kant e o testemunho, trabalha os conceitos de reducionismo e não-reducionismo para cumprir com o dualismo entre validação e negação do testemunho, ou seja, entre a verificação sobre aquele que testemunha e a apresentação de evidências para rejeitá-lo. Em poucas palavras, os reducionistas são aqueles que “defendem que é necessário que a base racional para o testemunho seja reduzida a outras fontes de crença (memória, percepção ou raciocínio inferencial)”, e os não-reducionistas, aqueles que “rejeitam a tese da necessidade da redução, embora possa haver não reducionistas que aceitem a possibilidade de redução”. O autor transita entre esses conceitos com ajuda de espitemólogos/as – como ele mesmo escreve – até chegar a Kant, quando a questão sobre a validação do testemunho afunila-se. Ao compor o “pensar por si mesmo”, poderíamos afirmar que Kant é um reducionista? É preciso analisar a proposição em questão sob uma perspectiva mais abrangente, tarefa que Douglas de Jesus cumpre com destreza.
O próximo texto é de Luis Oliveira que, n’Os limites do hilemorfismo e o conceito de transubstanciação em Tomás de Aquino, parte da Física de Aristóteles para falar sobre o que é a substância e o que é a transubstanciação. A escrita prende-nos ao texto, que se guia por uma colocação cristã: a presença do corpo e do sangue de Cristo durante a missa. São diversas possibilidades de questões a respeito dessa presença e, para cada resposta, novas questões são postas. Por exemplo, saber se há ou não a presença do corpo de Cristo no pão e no vinho, e se há essa presença, como fica a matéria pão e vinho? Enfim, as diversas questões que podem ser formuladas a partir desse ato simples mostram como a religião é fonte de filosofia, ao mesmo tempo que mostram como a filosofia se distanciava, em suas discussões, do próprio ato de fé.
Esta edição da Inquietude também conta com um texto com uma escrita experimental, produzido por Hercules da Silva Neto. Em Nietzsche e ciência: Viver experimental, o autor assume o estilo de Nietzsche e nos propõe adentrar à liberdade que irrompe os grilhões dos padrões, inclusive na forma de se pensar a ciência. É preciso flexibilidade para compreender o propósito do texto, que se direciona exatamente para esse ponto: tornar-se flexível. É nesse sentido que ideia e linguagem encontram-se, trazendo à tona um texto eminentemente transformador.
Para finalizar, o editorial decidiu por trazer a segunda autora desta edição: Elisa Oliveira. Ela, que transita entre filosofia e psicologia, ousa uma crítica à tradição da psicanálise, crítica essa que é construída a partir da filosofia de Nietzsche. Liberdade em Nietzsche: Uma crítica à teoria psicanalítica do desejo é um artigo terapêutico, pois a leitura traz o desejo de lançar-se em horizontes desconhecidos, abandonando caracterizações doentias determinadas no decurso da vida. A autora diz um novo modo de pensar a psicanálise que, pairando sobre o porvir, emancipa-se e redescobre-se.
Esta é uma edição aguardada que foi elaborada com esmero nos seus detalhes. A imagem escolhida para a capa é a pintura de Giorgio de Chirico, que fez parte de um movimento chamado “pintura metafísica”. As musas inquietantes gloriosamente ilustram esta edição, que fala sobre política, sujeito, igreja e liberdade, que questiona a razão, a história e o porvir. O tema da metafísica mostra-se amplo e aberto, e uma edição que se propõe a tanto sempre será inquietante. Esperamos que a leitura seja engrandecedora.
Atenciosamente,
A Equipe Editorial da Inquietude.
Angélica Carvalho Sant’Anna
-
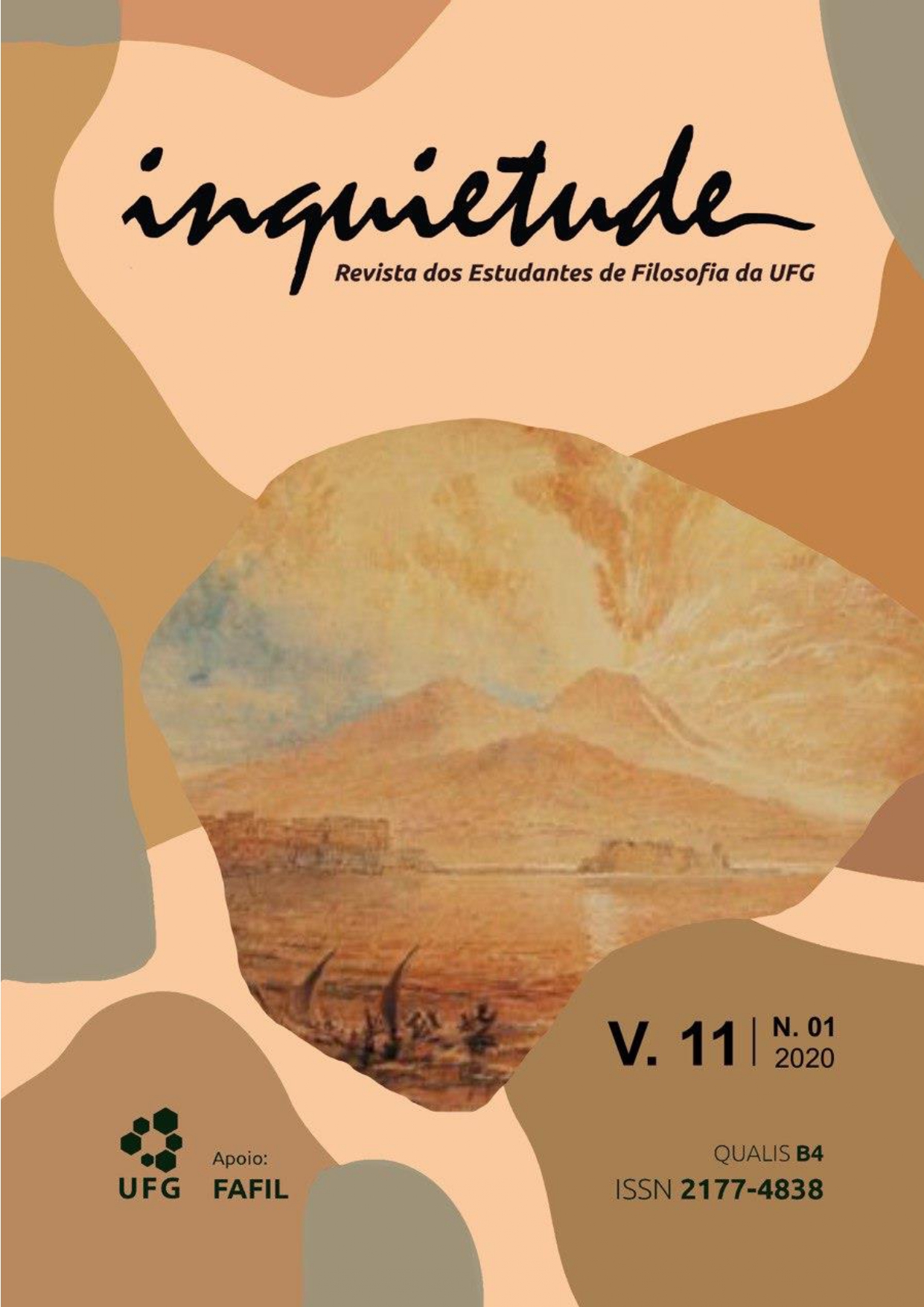
Dossiê Marx e Tocqueville
v. 11 n. 1 (2020)A revista Inquietude, ainda nas comemorações de seus dez anos de publicações ininterruptas, traz aos leitores uma edição especial. Nesta edição, que é ímpar não apenas pelo seu conteúdo, mas também pelo inquietante momento histórico no qual vivemos, temos a grande satisfação de apresentar um dossiê dedicado ao pensamento de Alexis de Tocqueville e Karl Marx. Existem relações possíveis, aparentes ou potenciais, no confronto entre as ideais destes dois pensadores? Os autores dos artigos que integram este dossiê nos brindam com suas reflexões diante deste e de outros questionamentos.
No artigo Das comunas e comunidade ao espírito de liberdade: Entre Alexis de Tocqueville e Karl Marx, André Rezende Soares Correia reflete sobre o vínculo entre a aproximação das vivências no espaço público e seus reflexos na constituição da liberdade. Sob o cuidado de realçar, de um lado, as diferenças entre uma posição que questiona a necessidade do Estado e da propriedade privada por parte de Marx e, de outro lado, uma perspectiva de democracia mais alinhada em conformidade com uma certa estrutura administrativa em Tocqueville, Correia é assertivo em pontuar o que pode unir o pensamento destes dois autores clássicos do pensamento político: o espírito de solidariedade e comunhão, bem como seu reflexo já indicado no título do próprio artigo em questão – o espírito de liberdade.
O clichê acerca da necessidade de compreendermos o passado com vistas a entendermos melhor nosso presente e, também assim, vislumbrar futuros possíveis é uma realidade cada vez mais palpável. Fugindo do lugar-comum e nos proporcionando uma instigante reflexão sobre o papel da imprensa em uma sociedade democrática é o que Brenner Brunetto Oliveira Silveira nos apresenta em seu texto d'Os desafios no século XXI acerca da relação entre liberdade de imprensa e democracia segundo Tocqueville e Marx. De acordo com o autor a liberdade de imprensa é mais que uma condição imprescindível das sociedades democráticas, e por isso, seu contrário, a censura, é um abuso. Apesar de nossa generalização, Silveira reflete, também, sobre os limites e os meios pelos quais a imprensa deve trafegar. Sem dúvidas, uma reflexão importante encaminhada nas trilhas de Tocqueville e Marx.
Ainda tendo como pano de fundo a questão democrática, nosso próximo autor visa sua relação, em termos gerais, com o mundo do trabalho. Em Da democracia à cabeça do alfinete – a nova aristocracia manufatureira e a alienação do trabalhador: Um ponto de encontro de Marx e Tocqueville, o autor Carlos Stuart Coronel Palma Junior resgata a reflexão sobre o papel constituinte do trabalho sobre a condição humana. Neste sentido, a argumentação do autor é mostrar que tanto para Tocqueville quanto para Marx, o trabalho é uma função essencial da vida humana, que de alguma forma contribui com o próprio seu próprio sentido. Por isso, o debate realizado ao longo do texto busca mostrar, para além de uma compreensão genérica do pensamento de Tocqueville e Marx sobre o trabalho, em que medida as transformações do mundo trabalho, tão aceleradas a partir do século XIX, ecoam até a atualidade.
Por fim, Renato César Rodrigues nos oferece Confluências e divergências no conceito e divisão do trabalho em Marx e Tocqueville. No artigo, o autor aprofunda a discussão iniciada anteriormente por Carlos Stuart Coronel Palma Junior, acerca da relação homem-trabalho e como Marx e Tocqueville a interpretavam. Embora os temas discutidos se assemelhem, vale notar que a originalidade de Rodrigues está em enfatizar não apenas os pontos equidistantes dos quais os pensadores analisados discutiram seus temas, mas também da impressão contemporânea que podemos utilizar para refletir sobre a relação entre trabalhadores e capitalistas.
Esperamos que tenham todos uma ótima leitura deste dossiê, bem como de nossa seção fluxo contínuo que conta com artigos diversificados em seus temas. A imagem de capa dessa edição é a pintura Eruption of vesuvius de Joseph Mallord William Turner (1755 – 1851), da qual não podemos deixar escapar uma importante analogia com a temática geral de nosso dossiê e de nossos tempos: a democracia está adormecida como o atual Vesúvio ou em uma erupção iminente?
Atenciosamente,
A Equipe Editorial da Inquietude.
Anderson Carvalho dos Santos
João Pedro Andrade de Campos -
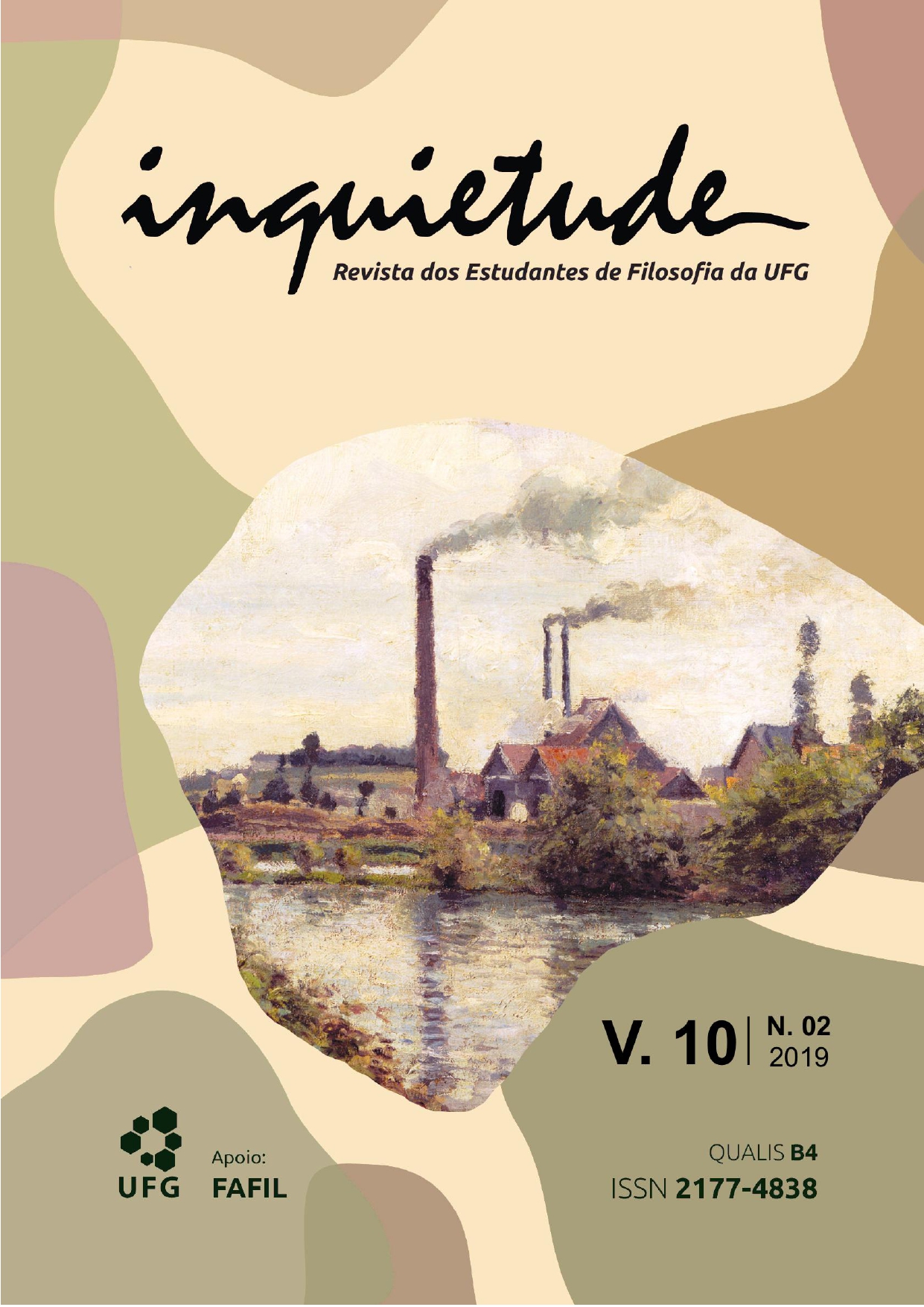
v. 10 n. 2 (2019)
Nesta segunda edição de 2019, a revista Inquietude tem o prazer de apresentar ao público uma elaborada e importante coletânea de trabalhos que abarcam diversas áreas e séculos da História da Filosofia. No Artigo de Rodrigo Trindade Nascimento, intitulado A base filosófica-científica na formação e desenvolvimento do Círculo de Viena, a filosofia do século XIX é levada em consideração a partir da tematização de questões filosóficas que contribuíram para a consolidação do Círculo de Viena.
O século XIX é ainda contemplado pelo artigo As ilusões e Marx: Um brevíssimo ensaio sobre as implicações do materialismo na formação da teoria social marxiana como não-determinista de Yago Barreto Bezerra, artigo esse em que o autor argumenta contra uma leitura finalista da obra de Marx, recusando, portanto, que Marx tenha reduzido a história humana a um fim necessário, isto é, o comunismo. Ainda no século XIX da História da Filosofia, podemos ler questões concernentes à filosofia da linguagem no escrito de Leonardo Magalde Ferreira, O papel da metáfora em Nietzsche e Bergson, que explora o lugar de destaque que o tema da metáfora ganhou na filosofia de Nietzsche e Bergson, servindo a eles como instrumento para uma crítica da metafísica tradicional e dos poderes representacionais da realidade por parte dos seres humanos, assim como a importância que a metáfora possui do ponto de vista formal da filosofia desses pensadores, na medida em que os possibilitou uma maneira singular de filosofar. Os problemas da filosofia de Nietzsche e, consequentemente, do século XIX, se fazem ainda presentes na resenha Nietzsche e o nietzschianismo: Constelações temáticas da recepção acadêmica da filosofia nietzschiana de Leonardo Camargo da Silva, sobre o livro Nietzscheanismo de Ashley Woodward (2016).
Olhando a História da Filosofia retrospectivamente a partir do século XIX, a Inquietude ainda conta em sua atual coletânea com os artigos de Loryne Viana de Oliveira e de Adriano Sotero Bin. O artigo de Oliveira, Entre o ceticismo e o não- ceticismo: David Hume e o velho Problema da Indução, elucida o desafio introduzido por Hume à epistemologia moderna quando este inaugura o célebre Problema da Indução, e elucida também algumas possíveis leituras céticas e não-céticas desse célebre problema. Além de questões filosóficas dos séculos XVIII e XIX, a presente coletânea oferece às leitoras e aos leitores da Inquietude questões políticas da filosofia de Aristóteles no artigo de Adriano Bin, A philia e a pólis em Aristóteles: Um estímulo à tolerância, que discute os conceitos de amizade e política na filosofia do Estagirita e sua relação com o tema da tolerância, tema este que é tão caro ao atual momento vivido pelo Brasil e ao contexto geral de sociedades contemporâneas em sua pluralidade e diversidade.
Antes de deixarmos vocês, leitoras e leitores, livres para desfrutar da presente coletânea textual oferecida pela Inquietude, um aviso importante. Em 2020, a Revista de estudantes de filosofia da Universidade Federal de Goiás completa dez anos de existência e de publicações que vêm disseminando, a partir da produção filosófica de graduandos, mestrandos e doutorandos, conhecimentos filosóficos imprescindíveis ao desenvolvimento e ao futuro do país. Para comemorar este ano especial, a equipe editorial da Inquietude irá apresentar uma edição especial contendo um dossiê sobre as obras de Marx e Tocqueville, e, além disso, uma entrevista com Heitor Pagliaro, que vem atuando como membro do corpo editorial da revista durante esses dez anos, sobre a história, a importância e o impacto da Inquietude e outras revistas dirigidas por estudantes de filosofia no Brasil.
Atenciosamente,
A Equipe Editorial da Inquietude.
Arthur Brito Neves
Eduardo Emanuel Ferreira Leal -
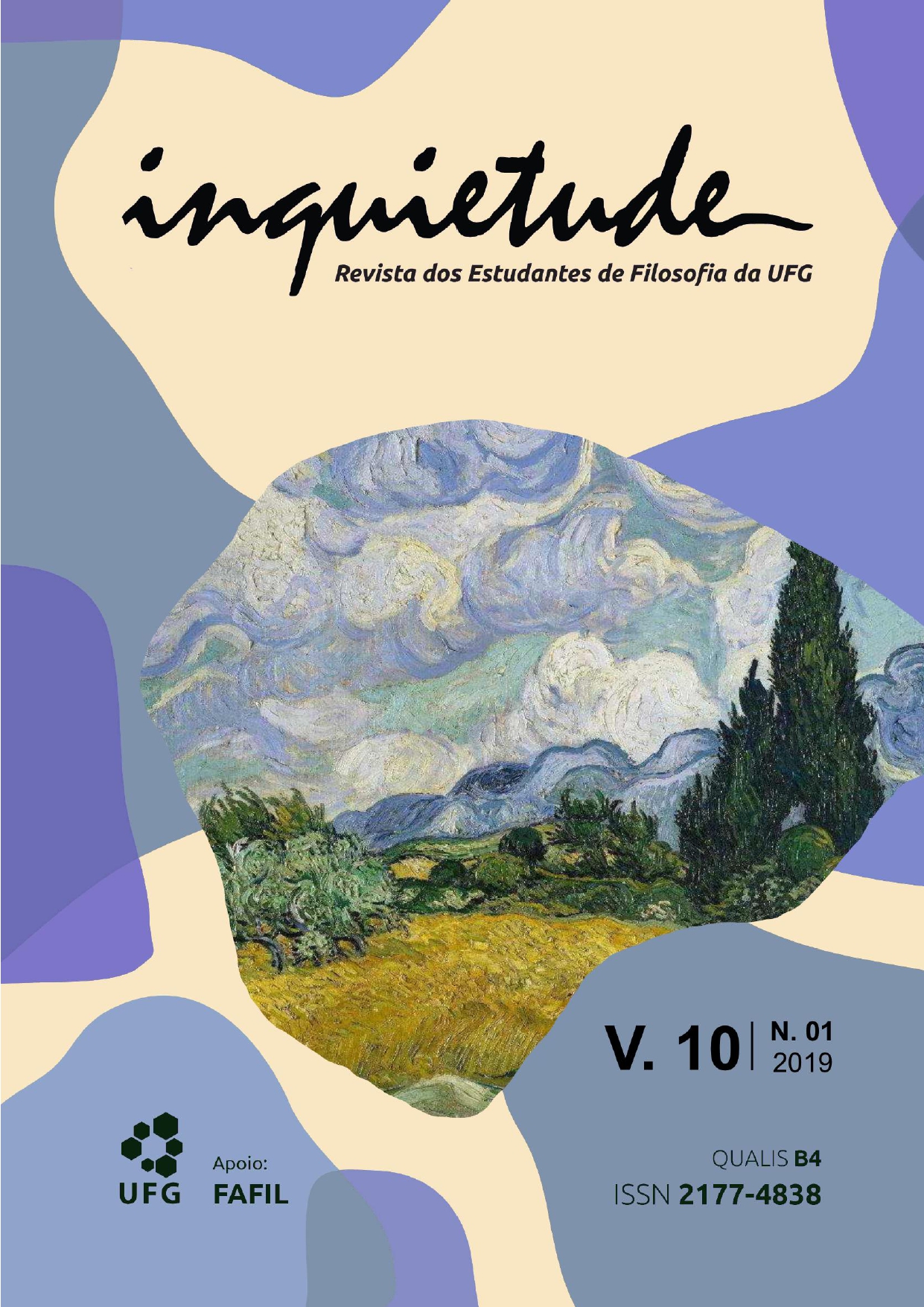
v. 10 n. 1 (2019)
Esta revista, lançada em 2010, chega, com esta edição, ao seu décimo volume. Desde o seu lançamento até o momento atual, a Inquietude publicou textos de mais de 110 autores e recebeu mais de 49 mil acessos em seu site. Tais dados são uma dose de alívio em meio à onda anti-intelectualista que estamos vivenciando. A arte que compõe a capa desta edição é o Campo de trigo verde com ciprestes, de Van Gogh. Assim como o fascínio de Van Gogh por ciprestes sempre o inspirou, a filosofia também nos inspira; afinal, mais do que necessária, ela é inevitável. Além disso, a sensação de movimento provocada pela obra de Van Gogh pode servir de metáfora para as inquietações que a filosofia nos provoca.
O novo volume inicia-se com um artigo intitulado David Hume e a concepção de razão em uma perspectiva naturalista: Uma análise de Edward Craig a partir da Tese da Semelhança, em que Claudiney José de Sousa argumenta que a postura naturalista adotada por Hume seria uma maneira de o filósofo se contrapor à Tese da Semelhança. De acordo com Sousa, o posicionamento de Hume o conduz à concepção distinta a respeito da razão e torna o tema da crença algo prioritário em sua filosofia.
Em seguida, em O olhar de Sêneca sobre o debate contemporâneo entre as éticas do dever e da virtude, George Felipe Bernardes Barbosa Borges argumenta que Sêneca contribui tanto para as éticas do dever quanto para as éticas da virtude. O autor nos apresenta conceitos encontrados na obra de Sêneca que se encaixam nas duas formas de ética. Mais do que isso, para Borges, tais conceitos não são excludentes na obra do filósofo estoico e, portanto, poder-se-ia conciliar dever e virtude compreendendo-os como complementares.
No próximo artigo, A ambiguidade de Nietzsche para com Sócrates, Laura Elizia Haubert nos propõe uma análise mais acurada sobre a visão de Nietzsche em relação a Sócrates. A autora mostra que as críticas nietzschianas a Sócrates, na verdade, se referem a um socratismo e não ao próprio filósofo grego. Assim, conforme as análises de Haubert, na obra de Nietzsche a personagem de Sócrates opera como uma espécie de máscara que representa aquilo que o filósofo germânico estaria de fato a criticar.
Em Adorno e Kafka: Estética da negatividade, Marina Coelho Santos mostra a ligação existente entre a indústria cultural e a estética negativa; a primeira pode ser compreendida como uma identidade da cultura de massas e a segunda como uma “desidentificação”. Santos argumenta que ambas, a cultura de massas e a estética da negatividade, são relacionadas através da arte moderna. No artigo, a autora mostra, a partir das obras de Adorno, que a estética negativa é presente na obra de Kafka.
Finalizando o volume, apresentamos o texto O estoicismo e a brevidade da vida, em que Nadir Antonio Pichler, Milena Paula Zancanaro e Talia Castilhos de Oliveira analisam os escritos de Sêneca sobre o tema da brevidade da vida. O autor e as autoras argumentam que o modo de vida proposto por Sêneca é contrário ao modelo de vida atual. Para eles, Sêneca ensina em sentido oposto ao modo de vida no qual a maioria das pessoas vivem ansiando pelo futuro, que somente ócio filosófico é capaz de revelar o sentido da brevidade da vida.
Aproveitamos para dar boas-vindas aos novos membros da revista: Aline Stéphanie Freitas, Anderson Carvalho dos Santos, Arthur Brito Neves, Eduardo Emanuel Ferreira Leal, Brenner Bruneto Oliveira Silveira, Gabriel Caetano de Queiroz, George Felipe Bernardes Barbosa Borges, João Pedro Andrade de Campos, Marina Lacerda Machado, Mariana Andrade Santos, Sabrina Paradizzo Senna e Sabrina Thays.
Para encerrar este editorial, citamos um trecho do poema O livro e a América de Castro Alves: “Por isso na impaciência / Desta sede de saber, / Como as aves do deserto — / As almas buscam beber... / Oh! Bendito o que semeia / Livros... livros à mão cheia... / E manda o povo pensar! / O livro caindo n’alma / É germe — que faz a palma, / É chuva — que faz o mar”.
Esperamos que apreciem a leitura deste volume!
Aline Stéphanie Freitas dos Reis
Rafael Arcanjo Teixeira -
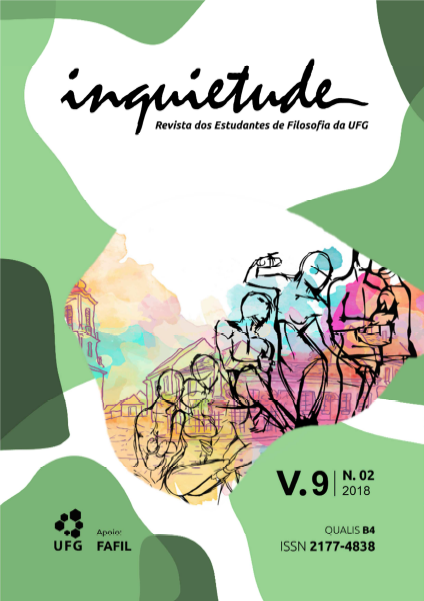
Dossiê Erotismo e Filosofia
v. 9 n. 2 (2018)O curso de filosofia da Cidade de Goiás completa 9 anos em 2018. Em 2014, para comemorar os 5 anos de curso, foi realizado o primeiro Congresso de Filosofia na Cidade de Goiás e foi mantida sua edição a cada dois anos. O tema “Erotismo e Filosofia” atraiu pesquisadores de outros Estados e incentivou a ampliação da pesquisa nesse âmbito. O tema “Filosofia e Cidadania” presente também nessa edição abriu espaço para as discussões sobre gênero, que já se constituía como demanda nos anos anteriores, bem como abriu espaço para trabalhos ligados à formação e ao desenvolvimento humano.
Assim como a filosofia em geral, o Congresso possui caráter aberto, sem assumir para si nenhum posicionamento diante dos temas. Cada autor é responsável por suas investigações, que muitas vezes podem contrapor a fala de outro pesquisador.
Apesar de não darmos direcionamentos aos trabalhos, isso não significa neutralidade, pois não há planejamento e nem produção de conhecimento que sejam neutros. De fato, não direcionar significa prezar por alguns valores, a saber: pela autonomia, pela originalidade, pela liberdade de expressão, pelo respeito com a diversidade, pela tolerância a pontos de vista diferentes, desde que não haja preconceito ou discriminação, ou qualquer tipo de subjugação.
Este Dossiê representa apenas uma pequena amostra do que aconteceu no III Congresso durante a semana de 15 a 20 de janeiro de 2018, na cidade de Goiás, que reuniu mais de 45 pesquisadores de diversos lugares do país (Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Tocantins, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná) e também de áreas diferentes (filosofia, direito, história, serviço social, artes plásticas, pedagogia) que participaram ativamente com palestras, comunicações, performances, exposições, contos, poemas, filmes e minicursos, conforme registro no Caderno de Resumos. Aqui, estão somente alguns dos trabalhos completos enviados e selecionados após a apresentação no Congresso.
E como já está se tornando tradição, não podemos deixar de finalizar com a frase da poetiza Cora Coralina: “esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte. Vem a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede”.
Ana Gabriela Colantoni
-

v. 9 n. 1 (2018)
No atual momento do Brasil, marcado pelo constante desmantelamento da democracia e da educação, inquietar-se é não só necessário, mas o que nos mantém resistentes e vivos. Em consonância com esse objetivo, apresentamos o volume 9, número 1, da Inquietude. A arte que compõe a capa desta edição é a Metamorfose da aura e a morte do instante na metrópole, de Samuel Vaz.
Em A necessidade da lei civil como princípio da justiça na filosofia hobbesiana, Luana Broni de Araújo busca compreender a necessidade da lei civil como fundamento da justiça na filosofia política de Thomas Hobbes. Rafael Carneiro Rocha, em A questão da existência de Deus em Edith Stein, investiga os argumentos que Edith Stein utiliza para demonstrar fenomenicamente a existência de Deus.
Em Roma, Esparta e a formulação da lei, Henrique Zanelato relaciona o pensamento de Maquiavel a reflexões acerca da história da república romana e da cidade de Esparta. Ao traçar uma comparação entre ambas as cidades, o autor evidencia as suas potencialidades políticas e os seus defeitos na formulação de leis. Em O problema da decisão soberana na filosofia do Estado a partir da perspectiva do estado de exceção permanente, Lucas Carvalho Lima Teixeira, por meio da obra de Agamben, elucida as análises de Hans Kelsen e de Carl Schmitt acerca da soberania e sua íntima ligação com o permanente estado de exceção.
Renzo Nery, em Da ontologia da vida à ontologia da morte: Notas sobre a filosofia orgânica de Hans Jonas, discute a biologia filosófica de Hans Jonas a partir de uma perspectiva vitalista que se opõe ao dualismo moderno entre organismo e espírito. Em Crítica à estrutura ontológica da linguagem na hermenêutica de Gadamer, Lucas Costa Roxo discorre sobre o sentido da estrutura na constituição da linguagem, ressaltando as estruturas ontológicas da linguagem e os seus reflexos no pensamento hermenêutico de Gadamer.
Aproveitamos para desejar boas vindas aos/às novos/as membros/as da Equipe Editorial da Inquietude: Angélica Carvalho Santanna, Joaquim Onofre Silva Neto, Lorrayne Freitas e Rafael Arcanjo.
Aline Matos da Rocha
-

v. 8 n. 2 (2017)
Com grande satisfação, anunciamos o volume 8, número 2, da revista Inquietude. A arte que compõe a capa desta edição é O friso de Beethoven: o desejo pela felicidade, de Gustav Klimt.
Apresentamos a segunda edição de 2017, composta por cinco artigos e, ainda, uma retomada da valiosa seção de entrevistas. Os editores da Inquietude Caius Brandão e Eduarda Santos Silva entrevistaram o renomado filósofo Oswaldo Giacoia Junior. O tema norteador do diálogo foi o status da filosofia no Brasil, acerca do qual Giacoia pontuou questões sobre o crescimento quantitativo e qualitativo da produção filosófica no país, a formação do filósofo e o caráter interdisciplinar da filosofia, lembrando-nos que a filosofia nasceu do diálogo com outros âmbitos do saber, com as técnicas e com a arte. É uma leitura imperdível, confira!
Abrindo a seção de artigos, temos o texto intitulado Movimento e subjetividade: Da revolução na física à revolução no sujeito, em que o autor Eric Moura Duarte, a partir do livro A estrutura das revoluções científicas, de Thomas Kuhn, traça, em linhas gerais, como a mudança conceitual sobre a natureza do movimento, levada a cabo por Galileu Galilei, implicou o primado da subjetividade na filosofia de Descartes. O autor explicita, ao analisar a quebra do paradigma sobre a natureza do movimento, como essa mudança levou a uma total transformação na forma como se vê o mundo.
O texto posterior é O princípio do “cuidado de si” como terapêutica da alma, em que Luciano André Palm analisa a obra A hermenêutica do sujeito, de Michel Foucault, com o propósito de compreender de que modo o princípio do cuidado de si pode ser concebido como uma terapêutica da alma. Para além disso, Palm apresenta a trajetória do cuidado de si na tradição e na civilização ocidental e identifica naquilo
que Foucault denomina “momento cartesiano”, isto é, no surgimento da ciência e da mentalidade científica moderna, a derrocada do cuidado de si como princípio constituidor do ethos da civilização ocidental.Em seguida, o artigo intitulado Monismo e dualismo entre Estado e direito: Breves considerações acerca do conceito de Estado de direito em Habermas, em que Rubin Assis da Silveira Souza questiona a frequente adoção do termo Estado de direito na obra Direito e democracia: entre facticidade e validade, de Jürgen Habermas. O artigo investiga os problemas decorrentes do fundamento e da apresentação deste conceito, contrapondo-o à sua antítese, que é a ideia monista de Hans Kelsen de Estado e direito. Segundo a abordagem de Rubin Souza, a filosofia habermasiana implica a adoção de uma teoria dualista entre os conceitos de Estado e de direito. O autor, sobretudo, revela a radical incompatibilidade entre a doutrina jurídica de Habermas e o positivismo kelseniano.
O penúltimo texto é intitulado John Stuart Mill e a utilidade da liberdade: Uma perspectiva liberal, de Aline Matos da Rocha. A autora adota uma noção de liberdade vinculada à noção de utilidade entendida a partir da tradição utilitarista. O artigo fundamenta-se em uma concepção de liberdade compreendida em âmbito individual, determinada pelos interesses do próprio indivíduo, com mínima interferência dos demais ou mesmo da autoridade pública.
O fechamento desta edição fica por conta do artigo Descartes, Heidegger, a condição humana e a questão do tempo futuro, de Dante Carvalho Targa e Fabrício Fonseca Machado. Os autores consideram que Descartes, ao instituir a metafísica da subjetividade e a primazia da razão como instrumentos para a interpretação do homem, abre espaço para o surgimento de uma sociedade cientificista que corrompe a noção de e estabelece que o tempo não passa de uma sucessão de eventos. A caracterização do tempo como mera sequência de fatos, contudo, encobre a possibilidade de significância do agora e afasta o homem de seu ser genuíno. Segundo os autores, na visão de Heidegger, é preciso, para uma mais correta hermenêutica, considerar primordialmente o porvir e entender o tempo como determinante da estrutura primordial do ser.
Informamos ainda, que a revista Inquietude foi aprovada como projeto de extensão pelo Conselho Diretor da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás. É importante lembrar que já houve um projeto de extensão da revista, cadastrado na PROEC sob a coordenação da professora Júlia Sebba Ramalho.
Por fim, agradecemos à Ingrid Costa pela nova identidade visual e novo projeto gráfico da revista Inquietude, que teve direção de arte de Luana Santa Brígida.
Kellen Aparecida Nascimento Ribeiro
-
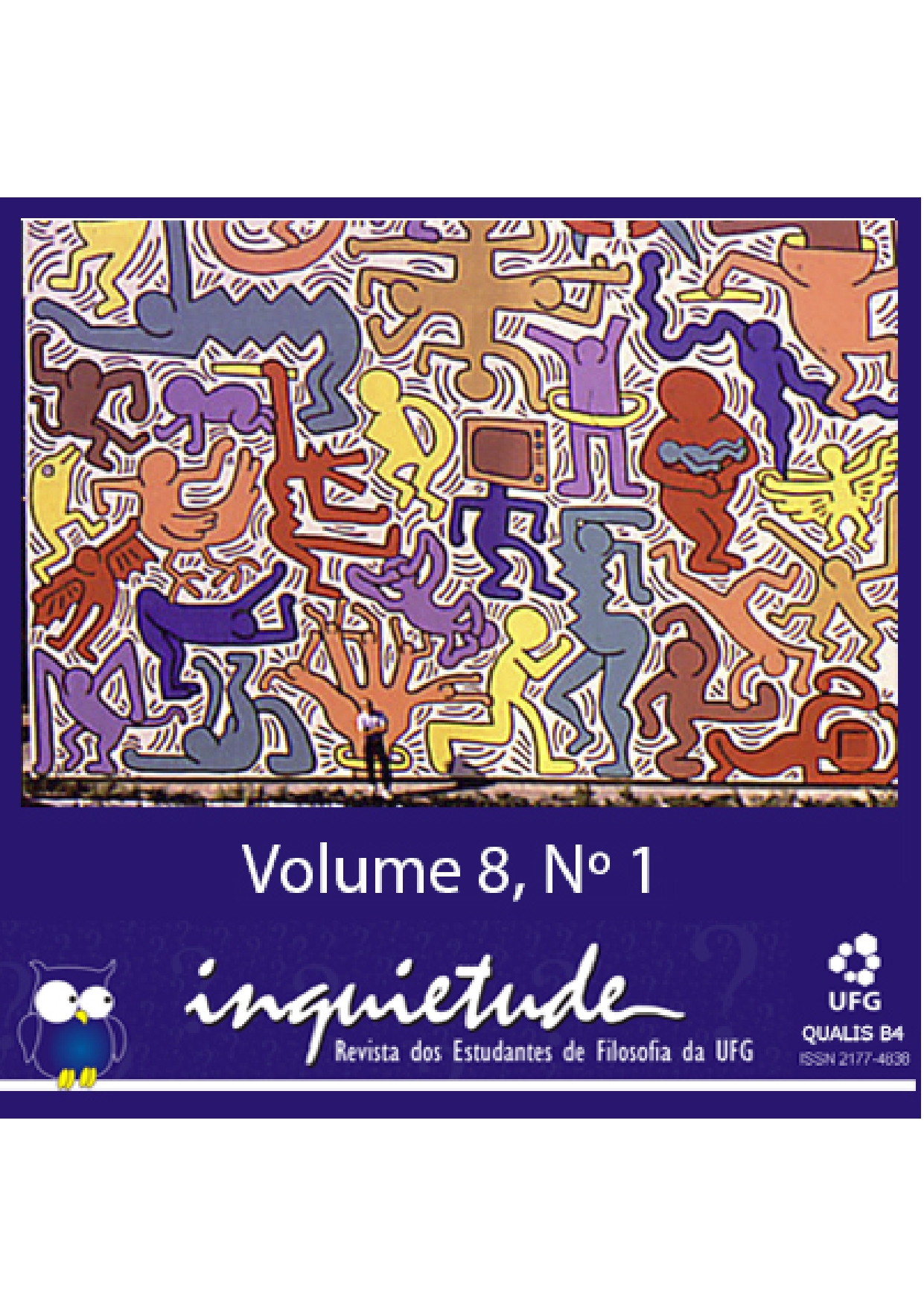
v. 8 n. 1 (2017)
É com grande alegria que anunciamos mais um volume da revista Inquietude: volume 8, número 1, fruto de muita dedicação e esforço. A imagem do mural produzido por Keith Haring compõe a capa deste número.
A filosofia é repleta de exemplos para pensarmos de que forma o conhecimento se faz: se por consensos ou conflitos. Teria Aristóteles alcançado seu profundo pensamento ético caso não houvesse estudado a ética platônica e percebido que com ela concordava em alguns aspectos e não em outros? Kant afirma que todos os pensadores da filosofia constroem seus edifícios do conhecimento sobre as ruínas de outras filosofias. Acreditamos que inquietar-se com o pensamento de outros autores seja um impulso para o conhecimento.
É neste movimento, entre conflitos e consensos, que apresentamos esta edição composta por quatro artigos e duas resenhas, além de uma seção de resumos de dissertações de mestrado, resumos de monografias e relatórios de iniciação científica.
No texto de abertura, intitulado Teoria do erro, o problema da objetividade moral e fenomenologia do valor, o autor Emerson Martins Soares faz uso da obra Ethics: inventing right and wrong, de J. L. Mackie, para discutir o desenvolvimento da Teoria do Erro, enfatizando suas principais características. Conforme dito acima, não só de consensos vive a filosofia, logo, o texto em questão busca tecer críticas à teoria de Mackie, colocando em cheque o êxito de sua teoria. Para Mackie, não existiriam valores morais objetivos. É usando o próprio desenvolvimento de Mackie que o autor identificará suas falhas.
Em seguida, apresentamos o artigo O conceito de opinião pública em Rousseau: Da corrupção do indivíduo à transparência do corpo político, de Rosângela Almeida Chaves. Neste, a autora busca revelar a evolução que o conceito de opinião pública sofre nas obras do genebrino. Primeiro, como um elemento negativo: fator de corrupção do povo; em outros momentos, como um controle social: estabilizaria os costumes e faria com que todos os seguissem.
O próximo artigo, Explicando e justificando ações: Sobre uma suposta “antinomia do agir”, de Darley Alves Fernandes. O texto aborda um aspecto a que Kant não deu ênfase, qual seja, a distinção entre “causa determinante” e “razão determinante”. A justificação de uma ação a partir de sua causa não se sustenta: a causa só nos faz entender e explicar a ação, mas não a justifica. Além disso, ambas não teriam um caráter excludente, mas sim complementar.
Nosso quarto artigo, intitulado O governo infinito dos homens: Escatologia e resistência em Foucault e Agamben, de Pedro Lucas Dulci, objetiva inquirir a articulação embrionária de alguns conceitos no interior do pensamento foucaultiano, os quais, mais tarde, serão usados por Agamben como genealogia teológica de economia e de governo. Foucault parte de um questionamento referente a pretensões políticas infinitas e indica formas escatológicas de contraconduta. Agamben faz uso dessas noções para desenvolver seu pensamento em relação àquelas sobre o tempo messiânico.
A seção de resenhas apresenta, em sua abertura, um texto elaborado por Fernando Cardoso Bertoldo, A educação ética como via da cidadania cosmopolita em Kant, o qual se constrói a partir do texto Sobre a pedagogia, de Immanuel Kant, em sua 2ª edição, de 1999. O objetivo desta resenha é explicitar por que e como, para Kant, a educação ética é o meio pelo qual a cidadania cosmopolita poderia ser alcançada. Bertoldo, para isso, busca dar algumas respostas para questões que concernem à concepção de ser humano e à possibilidade de uma formação moral e, além disso, o autor da resenha avalia se a obra identifica quais as condições necessárias para um ser humano pensar por si mesmo e quais as exigências necessárias para que se alcance uma cidadania cosmopolita.
A segunda resenha desta edição foi escrita por Miroslav Milovic, sobre o livro El ocaso de occidente [A crise do ocidente], do espanhol Luis Sáez Rueda. Rueda busca inspiração em Husserl, mas não trata dos mesmos temas, olha para a nossa realidade atual e a percebe como pobre em relação ao poder de autocriação: não somos mais uma sociedade que cria, somos uma sociedade de consumo. Dessa forma, Rueda pensa em formas de recriação da fonte produtiva. Além disso, salienta suas diferenças com o pensamento de Habermas, deixando claro que uma específica dimensão material da cultura estaria sendo perdida. Sua inspiração viria de Deleuze e de seus pressupostos rizomáticos, neste caso, a riqueza dos rizomas energéticos em contraposição às forças capitalistas e à cultura identitária que nos dominam.
Manifestamos nossa gratidão aos membros do Conselho Editorial da Inquietude, aos autores que confiaram na revista para a submissão e publicação de seus textos e, especialmente, aos pareceristas que compuseram a comissão de avaliação dos artigos aqui publicados. Ratificamos que o espaço da Inquietude busca a promoção de um diálogo filosófico, por isso deixamos aberto o convite para aqueles que objetivam, no futuro, enviar-nos seus textos. Agradecemos também o apoio e o incentivo da Faculdade de Filosofia às atividades da revista.
Por fim, gostaríamos de aproveitar para desejar boas vindas aos novos membros da Inquietude, aos editores: Aline Matos da Rocha, Eduarda Santos Silva, Fernando Batista Safadi, Joézer Carvalho de Castro, Kellen Aparecida Nascimento Ribeiro e Paulo Fernando Rocha Antunes, e também aos novos revisores: Davi Maranhão De Conti e Paola Nunes de Souza.
Adriane Campos de Assis Remigio
-
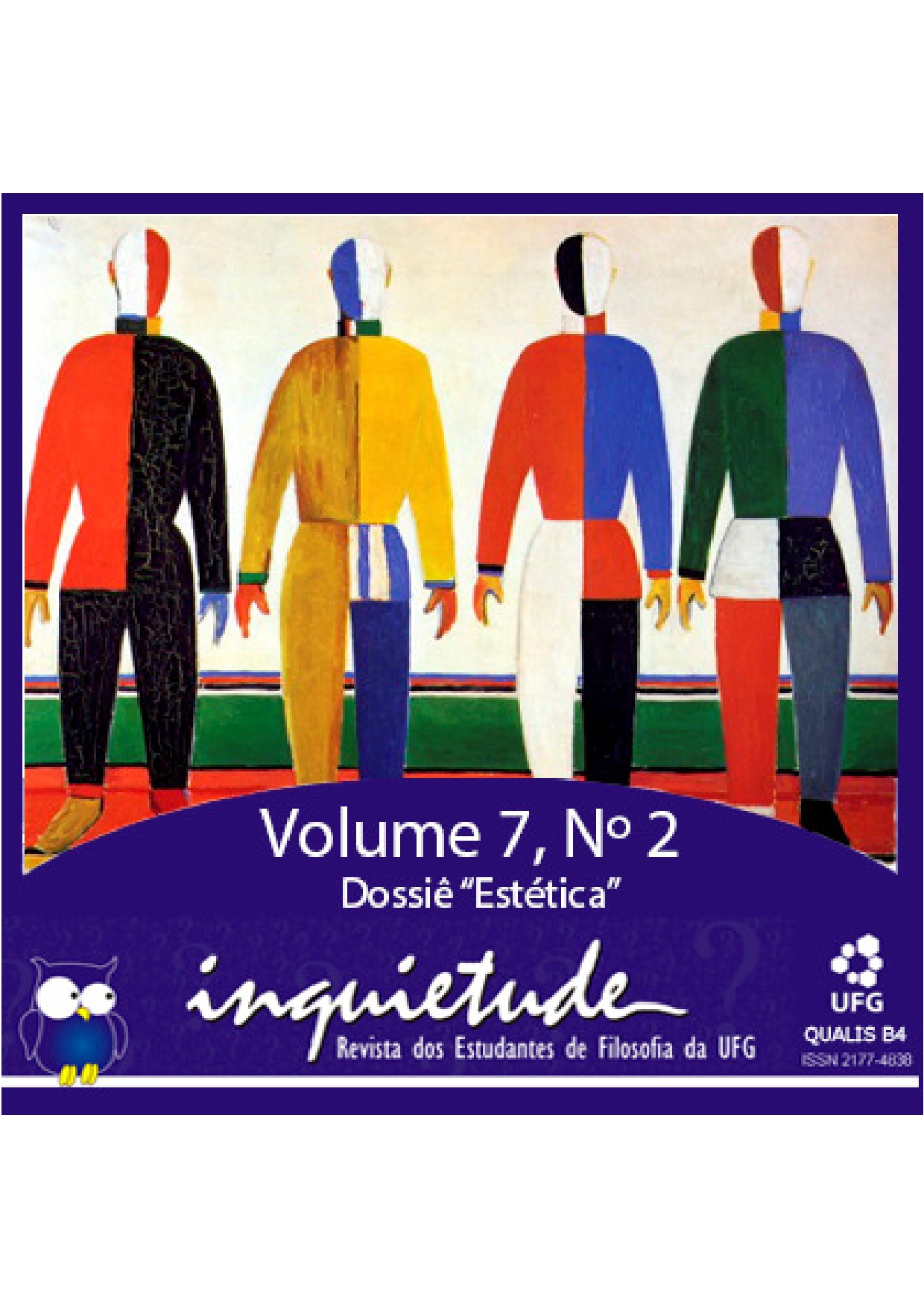
Dossiê "Estética"
v. 7 n. 2 (2016)Os artigos que compõem o Dossiê de Estética nessa edição da Inquietude provêm do I Colóquio Internacional de Estética da FAFil/UFG, cujo tema “Confluindo Tradições Estéticas” teve por objetivo reunir diferentes tendências do pensamento filosófico e estético.
A apresentação de comunicações alcançou temas e autores de variados períodos da história da filosofia: de Platão a H. P. Lovecraft, Kant, o Romantismo Alemão, Hegel, Nietzsche, Edith Stein, Merleau-Ponty, Heidegger, Bataille, Marx, Benjamin, Danto e teorias estéticas feministas. A discussão fomentada nas mesas e conferências formou um interesse comum e diverso, de maneira a apresentar a Estética e a Filosofia da Arte como uma espécie de cornucópia que, ao mesmo tempo afunila e expande − com abundância − o saber filosófico.
Raramente vemos filósofos deixarem de se imiscuir na área da Estética, a qual, em determinados momentos da história da filosofia, manteve relevância equiparada à da própria filosofia. Desta, por vezes, distanciada, quando se tem em vista apenas uma relação notoriamente universal e objetiva com o saber, a Estética passou a servir de base e consulta a todo conhecimento que pensasse a forma e sua recepção, em termos psicológicos e artísticos, ganhando contornos de interdisciplinaridade. Nunca abandonou, contudo, seu caráter original que a tornava veículo de relação entre epistemologia e ética, entre saber e agir moralmente, entre reflexão e ação política, entre crítica e arte, entre ser e aparecer. Os artigos publicados neste Dossiê possuem o mérito de refletir algumas dessas dimensões.
No artigo de Fernando Ferreira da Silva, o leitor encontra a relação entre juízo estético e crítica de arte, utilizando como referência o conceito de “ironia romântica” como um procedimento marcado pela proximidade entre filosofia e poesia (ou literatura), cuja tarefa é destruidora e crítica da forma artística tradicional. O viés desta interpretação se encontra na dissertação de Walter Benjamin a respeito do conceito de crítica de arte no romantismo alemão.
Em Os limites da crítica como definição diante do pluralismo e do multiculturalismo da arte pós-histórica, Charliston Pablo do Nascimento explora os limites da crítica de arte na atividade libertadora dos condicionantes do fazer artístico tradicional. A teoria de Arthur Danto sobre o papel mediador da crítica de arte num momento histórico em que “tudo pode ser arte”, sem padrões pré-determinados, é problematizada pelo autor que lhe opõe a tese do filósofo analítico Noël Carrol a respeito de outra possível definição de crítica de arte na teoria de Danto, tendo em vista impasses sobre a relação entre arte e mercado.
Sobre mercado, moda e cultura, trata o artigo de Rodrigo Araújo, cuja fundamentação requer o conhecimento de alguns conceitos herdados de Marx por Walter Benjamin, entre os quais o de fetiche da mercadoria e o de fantasmagoria. A fim de reconstruir a base dessa discussão, o autor recorre à teoria da modernidade de Benjamin, marcada pela poesia e teoria de Baudelaire e a cidade de Paris.
Retrocedemos ao artigo de Eder David de Freitas Melo [traduzido ao inglês por Caius Brandão] a fim de reconhecer a relação entre epistemologia e estética por meio da noção agonística de tragédia como foco central para a filosofia. Nietzsche e as noções extremas de hybris e prudência norteiam a análise do autor que pressupõe uma relação intrínseca entre o sentido do trágico, a vontade de poder e a busca pela verdade na filosofia.
Por fim, a tradução sobre Gaston Bachelard [feita por Gabriel Kafure da Rocha] encerra a abundância de temas e relações explorados nos artigos ora publicados, bem como a discussão que lhes antecedeu e que circunscreveu a fala dos participantes do evento de Estética, os quais, por diferentes motivos não estiveram aptos a enviar suas contribuições para a revista.
Certa de que novas discussões serão despertadas pela leitura do presente Dossiê, recomendo ao leitor ânimo e disposição equivalente para a leitura de suas fontes, já norteados pela interpretação dos autores dos artigos publicados e de uma infinita literatura sobre os textos de referência, que permanecerão, ao mesmo tempo, densos e permeáveis ao pensamento.
Carla Milani Damião
Professora da Faculdade de Filosofia da UFG -
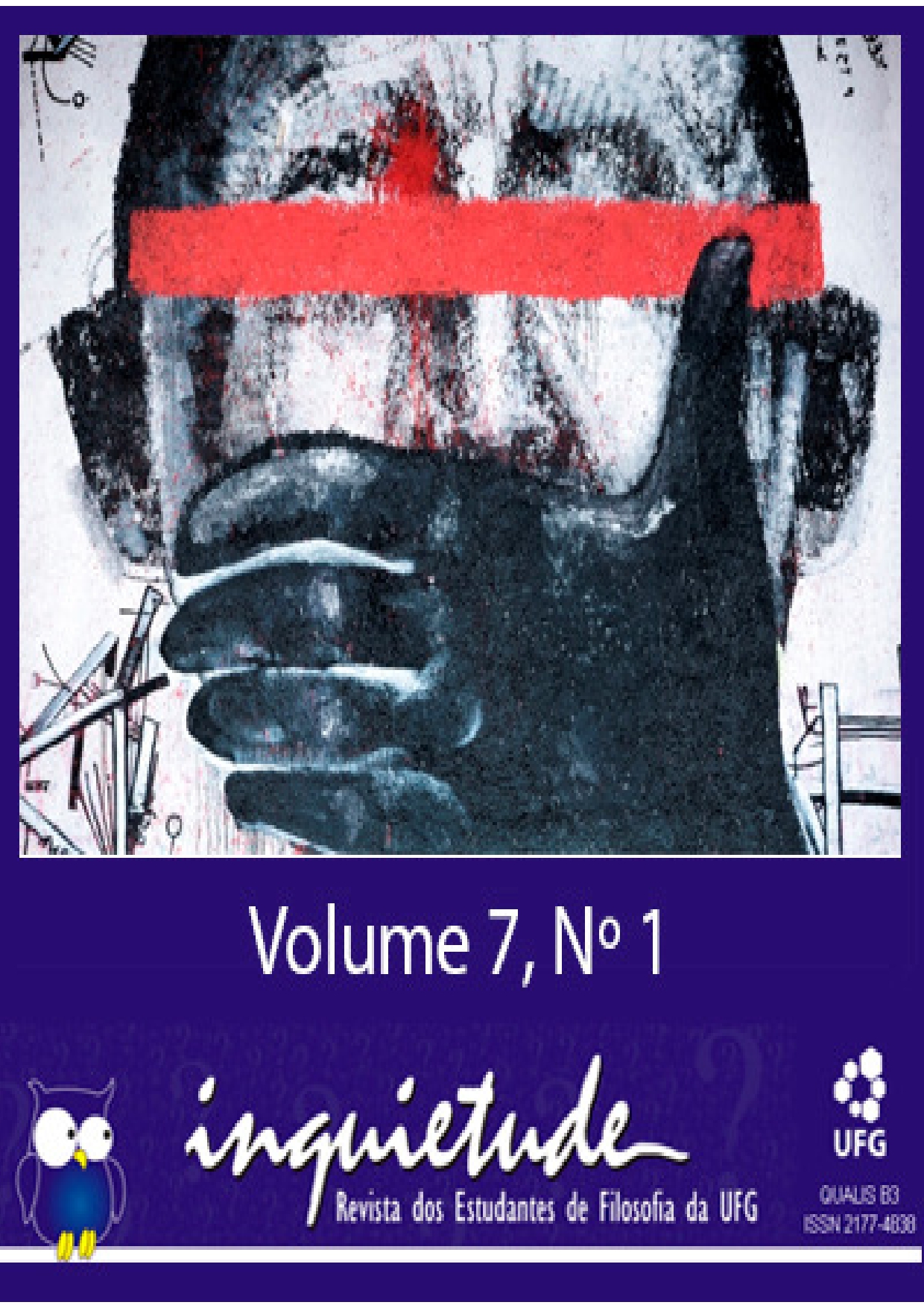
v. 7 n. 1 (2016)
Por que escrever e publicar textos filosóficos? Tais atividades são suficientes para consolidar uma carreira em filosofia? Apenas elas, e tão somente elas, demonstram aptidão para a reflexão filosófica, um tipo de atitude que não assume o dado enquanto dado, mas que, ao contrário, se questiona sobre ele? Em um cenário no qual a própria pesquisa em filosofia e seu ensino se veem ameaçados, nos parece ser importante fazermos essas perguntas. É inclusive difícil ficarmos sentados do lado de cá, escrevendo, por exemplo, este editorial, enquanto tanto se passa lá fora, nas escolas, nas universidades, no Congresso, nas ruas. A escrita é um instrumento por meio do qual sistematizamos nossos estudos, revelamos aonde chegamos, mostrando-nos em letra. Mas nossas inquietudes, nossas pesquisas, nossas inúmeras leituras ficam todas apenas guardadas sob a égide da palavra escrita, repousada no papel? Elas não se transfiguram em vivências, quiçá em experiências fluidas no cotidiano burocrático da vida acadêmica? Certamente, para a consolidação de uma carreira em filosofia, no Brasil, é condição importantíssima apenas rechear o Currículo Lattes com publicações. Contudo, a Inquietude não surgiu para satisfazer esse tipo de ânsia. Antes, partindo do pressuposto de que para escrever textos filosóficos não é necessário possuir um currículo de erudito e que, a despeito das burocracias que se ramificam por toda a academia, engessando-a, é preciso haver espaço para o pensamento vivo, capaz de pensar a si mesmo, com afinco e comprometimento, a Inquietude surgiu e se mantém número após número publicando textos filosóficos selecionados criteriosamente por sua qualidade, e tão somente isso.
No presente número trazemos como capa a imagem de um dos grafites nos chamados “Arcos do Jânio” que causou polêmica na cidade de São Paulo. Talvez nada mais apropriado do que uma “voz” que vem das ruas para expressar o que vivemos cotidianamente. Pois, infelizmente, ainda é possível encontrar em nossas cidades vítimas de uma polêmica proibida, em uma democracia com aptidão para a intolerância, na qual ou se obedece ou coloca-se a mordaça.
Nosso primeiro texto, A cartografia do mal no pensamento de Hannah Arendt, de Flávia Stringari Machado, não está distante desse tipo de espírito de uma época. Nele, observando que Hannah Arendt reconheceu nos campos de concentração da Segunda Grande Guerra uma ruptura com a tradição, propõe-se investigar o problema do mal por meio de uma cartografia deste conceito em sua obra, uma vez que se reconhece não existir uma teoria do mal no corpo de seu pensamento. Assim, os conceitos de mal radical e mal banal são analisados e relacionados, com intuito de delimitar se são conceitos que se excluem ou não. O segundo texto deste número, A filosofia política para Leo Strauss, de Elvis de Oliveira Mendes, é uma reflexão na qual, primeiramente, busca-se uma definição sobre o que é filosofia, para em seguida se deter em um sentido stricto do que é filosofia política, configurando, deste modo, em uma abordagem autorreferencial, ou seja, a filosofia [política] pensando a si mesma.
A partir da noção de que na base da vida política está o conflito entre os desejos que mobilizam os homens, em Maquiavel, na obra Discursos sobre a primeira década de Tito Lívio, investiga-se no terceiro artigo aqui publicado, Conflitos políticos e grandeza republicana segundo um enfoque de Maquiavel à república de Roma, de João Aparecido Gonçalves Pereira, a relação paradoxal entre dissensão dos humores, conflitos, liberdade e expansão territorial como algo útil para uma República. No quarto artigo, Coragem da verdade e cinismo: A filosofia do “cão” e o desfigurar da moeda, de André Luiz dos Santos Paiva, o cinismo antigo é analisado por meio do referencial teórico de Michel Foucault como algo pertinente para a filosofia contemporânea, o que se mostra através da noção de coragem da verdade, da metáfora do cão e da desfiguração da moeda, enquanto construção de um modo de vida cínico.
Com o quinto artigo, Modernidade e literatura engajada: Uma aproximação entre Habermas e Sartre, de Lennimarx Porfírio Oliveira, constrói-se uma aproximação entre a teoria da modernidade de Habermas e a noção de literatura engajada de Sartre. Por fim, nosso último artigo, O conceito de fundamentação última na fenomenologia de Max Scheler, de Daniel Branco, com escopo introdutório, a partir da obra A posição do homem no cosmos, passa pelos conceitos de alma, corpo e metafísica, para confluir em seu objetivo principal, a refutação do conceito clássico de fundamentação última e a implicação de seu novo conceito.
A Equipe Editorial agradece o apoio de seus colaboradores, do Conselho Editorial e de todas as pessoas que cooperaram e cooperam para a existência deste periódico. Desejamos boa leitura e profícuas inquietações!
Eder David de Freitas Melo
-

v. 6 n. 2 (2015)
Apresentamos à comunidade universitária e leitoras/es interessadas/os na promoção e veiculação do pensamento conceitual o volume 6, número 2, da madura e tradicional Inquietude da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás (UFG). A Inquietude publica periodicamente textos filosóficos de estudantes, professoras/es, pesquisadoras/es do Brasil e de outros países. Assim como em volumes anteriores a presente edição é o fruto de um intenso e árduo trabalho da Equipe Editorial, com o apoio do Conselho Editorial. A confiança com que as/os autoras/es submetem seus artigos à Inquietude revela que o comprometimento e a qualidade na avaliação de seus escritos seguem os padrões de qualidade estabelecidos pelas diretrizes da revista permitindo que ela se consolide no âmbito da pesquisa e publicação em Filosofia.
A discussão conceitual é imprescindível para a diversidade do pensamento no seio da sociedade que pensa a si mesma de várias formas, suprindo uma demanda por espaço para divulgação de pesquisas e, situando o/a leitor/a acerca das problematizações filosóficas com a devida exposição argumentativa. Discussões estas que permeiam a formação e o desenvolvimento do pensamento desse período, não apenas no nível individual, mas de um particular que se universaliza.
Em momentos sombrios onde a questão do “tempo” para dedicar-se a produzir e estudar sofrem cortes, cabe lembrar aqui o conturbado cenário político atual, afetando todas/os as/os brasileiras/os de maneira geral, e, de maneira específica, as/os estudiosas/os desta nobre área. A carreira acadêmica das/os alunas/os de filosofia padece com sérios problemas em suas áreas de atuação pós-formatura, seja no magistério básico ou superior. Contudo esperamos pelo melhor, e desejamos que a pluralidade e o debate de ideias sejam vistos como absolutamente necessários e indispensáveis por nossa sociedade.
Nesta edição apresentamos a Xilogravura de Samuel Rodrigues (capa) e cinco artigos inéditos de uma impar inquietação filosófica.
Iniciamos com o artigo Breve estudo sobre comportamento verbal e racionalidade como critérios de verificação de inteligência artificial [de Emanuel Lanzine Stobbe], que investiga o critério de comportamento verbal enquanto condição necessária para a verificação de inteligência humana e artificial. A hipótese central é que se faz necessário um critério mais exigente para a constatação de um paralelo entre os critérios de avaliação para averiguação racional. Ainda na esteira da compreensão do nosso processo de conhecimento em geral, temos outro artigo, O conceito de nous e sua relação com o conceito de dianóia na filosofia de Aristóteles [de Alexandre Guedes Barbosa], que busca esclarecer os conceitos de nous e dianóia em Aristóteles, em sua obra De anima. O objetivo do autor é de obter, nesta perspectiva, um maior entendimento sobre a compreensão bipartida em ativo (nous poiētikos) e passivo (nous pathetikon), argumentando que as afecções do intelecto são distintas das afecções de quem o possui.
Ainda sob a ótica aristotélica, o artigo Objetos matemáticos em Aristóteles [de Matheus Gomes Reis Pinto] visa investigar a estrutura e o papel da matemática e de seus objetos, valendo-se dos escritos aristotélicos sobre a matemática – mais especificamente dos livros M e N da Metafísica –, bem como dos diálogos decorrentes das discussões filosóficas com o seu mestre, Platão.
Avançando na discussão sobre a questão moral publicamos, nessa edição, o artigo Nietzsche e a aristocracia [de Ronaldo Moreira de Souza]. O texto examina dois tipos de morais identificados por Nietzsche sob a tipologia moral de senhores e moral de escravos. Tais caracterizações levam Nietzsche a pensar uma nova concepção de política. Denominada “Grande Política”, ela visa se opor às concepções de moral e política vigentes na modernidade e, assim, preparar o advento de uma espécie de “além do homem” como superação do homem moderno.
Sobre a atuação do conhecimento filosófico no ensino médio temos o artigo O ensino de filosofia no ensino médio: Novos desafios [de Kairon Pereira de Araujo Sousa], que apresenta alguns novos desafios dessa disciplina, ao longo da história da educação básica brasileira, ocupando um lugar pouco privilegiado. Até então, a Filosofia vinha sendo utilizada somente como matéria complementar e ministrada por educadores provenientes de variadas áreas do conhecimento. O artigo apresenta alguns dos novos desafios enfrentados pelos professores de Filosofia, quanto à sua práxis e às novas reflexões sobre o ensino no nível médio.
Por fim, comunicamos ao/à leitor/a o nosso propósito de lançar ainda neste ano duas novas edições. Aproveitamos a oportunidade para dar boas-vindas à nova editora e editores Mariane, Pedro e Reinner. Esperamos que juntos possamos construir uma revista com qualidade cada vez maior. Agradecemos de modo especial ao Conselho Editorial da Inquietude e às/aos professoras/es que compuseram a comissão de avaliação dos artigos aqui publicados e aos autores que submeteram seus trabalhos. Reafirmamos que estamos sempre receptivas/os aos acadêmicos que desejem nos enviar seus textos para publicação.
Reinner Alves de Moraes
-

v. 6 n. 1 (2015)
É com prazer que apresentamos à comunidade universitária e demais interessados o volume 6, número 1, da Inquietude, um projeto acadêmico e editorial de estudantes dos cursos de graduação e pós-graduação em Filosofia da Universidade Federal de Goiás. Tal como nas edições anteriores este número é fruto de intenso trabalho da Equipe Editorial, com o apoio do prestigiado Conselho Editorial, assim como da iniciativa de autoras/es que buscam com sua escrita nos apresentar aspectos de suas pesquisas e inquietações no que concerne à produção filosófica em nosso país. Em consonância com sua proposta inicial, apresentamos ao público uma edição que preza pela diversidade no tratamento de problemas filosóficos, assim como um espaço próprio para a divulgação de variadas pesquisas e a possibilidade de tornar pública a comunicação de criativos e elaborados trabalhos de pesquisadoras/es experientes, de alunas/os da Graduação e da Pós-graduação em Filosofia da UFG e de outras Universidades e Faculdades de Filosofia do Brasil, bem como de pesquisadoras/es de distintas áreas do saber que objetivem nos apresentar textos de cunho filosófico.
Aliada à diversidade da produção filosófica existente em nosso cenário atual e à ousadia de jovens autoras/es que buscam e criam espaços para a publicação de suas produções acadêmicas, vemos surgir em nosso país estudos voltados à discussão de aspectos centrais para a sociedade, como o posicionamento político e as variadas acepções de movimentos sociais que discutem feminismos, gênero, raça, questões ambientais e educação. Haja vista tal contexto de intensas discussões e sua importância para a formação e desenvolvimento cultural, não apenas individual, mas coletivo, acreditamos e reafirmamos mais uma vez a validade e necessidade de uma revista tal como a Inquietude, para que cada vez mais possamos pensar e tornar públicas nossas pesquisas, assim como possibilitar um ambiente de debates que preze primordialmente pelo rigor filosófico.
É com este espírito de inquietude que apresentamos esta edição composta por cinco artigos e cinco resumos. Na capa, apresentamos uma obra de arte [Eye am knowledge] de Adelaide Marcus, artista que percorre distintos gêneros artísticos, tais como a pintura e as performances em criações que remetem ao pensamento e à inspiração e gostaríamos de agradecê-la por ter nos permitido a utilização de sua obra em nossa edição.
No artigo inicial, A noção de "substância" em Wittgenstein [de Bruna Garcia da Silveira Miguel Elias], temos uma reconstrução filosófica da concepção de substância presente nos primeiros escritos de Wittgenstein, bem como a discussão sobre a influência da tradição aristotélica em sua obra, além de sua inicial ruptura com tal tradição já em escritos iniciais. A distinção central entre Aristóteles e Wittgenstein, no que concerne à substância reside, segundo a autora, na ontologia adotada, assim como na recusa ao uso do símbolo de identidade por Wittgenstein.
No texto A remissão da irreversibilidade e da imprevisibilidade da ação: Comentários sobre o perdão e a promessa em Hannah Arendt [de Nádia Junqueira Ribeiro], a autora discute o aspecto político da ação humana em sua relação com o perdão e a promessa, que em A condição humana são apresentados a partir dos domínios da irreversibilidade e imprevisibilidade, respectivamente. As relações entre a incapacidade do desfazimento de ações assim como o caráter imprevisível da ação humana são pensadas enquanto instrumentos criadores de responsabilidade pessoal e política. A admissão de tal responsabilidade resulta na compreensão de que a ação é o espaço único de exercício da liberdade.
A hipótese de que Agostinho tenha sido uma importante influência para a constituição da filosofia de Descartes e em especial da concepção de cogito é apresentada [por Evaldo Pereira de Rezende] em Relação entre o pensamento de Agostinho e o cogito cartesiano – A certeza da existência humana como condição para a possibilidade do erro e da dúvida. O objetivo deste artigo é mostrar elos e oposições entre os autores, assim como a validade da hipótese segundo a qual Agostinho teria inspirado Descartes.
No artigo Entre vida e morte – A antropologia na filosofia de Henry Bergson e na psicanálise de Sigmund Freud [de Adriana de Albuquerque Gomes], as concepções de vida e morte são analisadas a partir da obra de Bergson e Freud em uma tentativa de identificar semelhanças e divergências entre os autores. Por fim, em As relações perigosas: A análise da máscara social em Rousseau e Diderot [de Adriane Campos de Assis Remigio], somos levados a uma análise da concepção de máscara social enquanto crítica à sociedade em Rousseau e Diderot, bem como a um estudo interdisciplinar que pretende estabelecer relações entre esta noção e o cinema, particularmente no filme Ligações perigosas, de Stephen Frears, em busca do esclarecimento de concepções como índice de transparência e ironia.
Para completar a edição deste número, publicamos o resumo de uma dissertação defendida [por Caius Brandão] no ano de 2015 na Faculdade de Filosofia da UFG intitulado Estudo das ideias de justiça no pensamento político-filosófico de Jean-Jacques Rousseau, assim como de dois textos provenientes de pesquisa em Iniciação Científica, A questão da existência de Deus em Edith Stein [de Rafael Carneiro Rocha] e Compatibilismo e método dedutivo na Ethica Eudemia [de Mariane Farias de Oliveira]. Apresentamos também dois resumos de monografia denominados A recolocação da questão da verdade enquanto Aletheia em Ser e tempo [de Douglas Schaitel] e A dimensão moral do mercado [de Marcelo Rodrigues de Melo].
Em tempo, gostaríamos de exteriorizar a satisfação de todos os membros envolvidos no desenvolvimento desta publicação com a elevação para o estrato B3 na classificação de periódicos Qualis da CAPES. Tal notícia é motivo de júbilo por simbolizar o reconhecimento do empenho envolvido no desenvolvimento da revista desde sua primeira edição e reflete a dedicação, o cuidado e o comprometimento do corpo editorial.
Para finalizar, agradecemos ao Conselho Editorial da revista e, em especial, aos professores que compuseram a comissão de avaliação dos artigos aqui publicados. Também somos gratos aos autores que nos submeteram seus trabalhos, e abrimos espaço para o convite àqueles que objetivam, no futuro, nos enviar seus textos. Agradecemos, por fim, o apoio e o incentivo da Faculdade de Filosofia às atividades da revista, e reafirmamos este espaço como um lugar de promoção do diálogo e da divulgaçã da produção filosófica discente.
Thaís Rodrigues de Souza
-
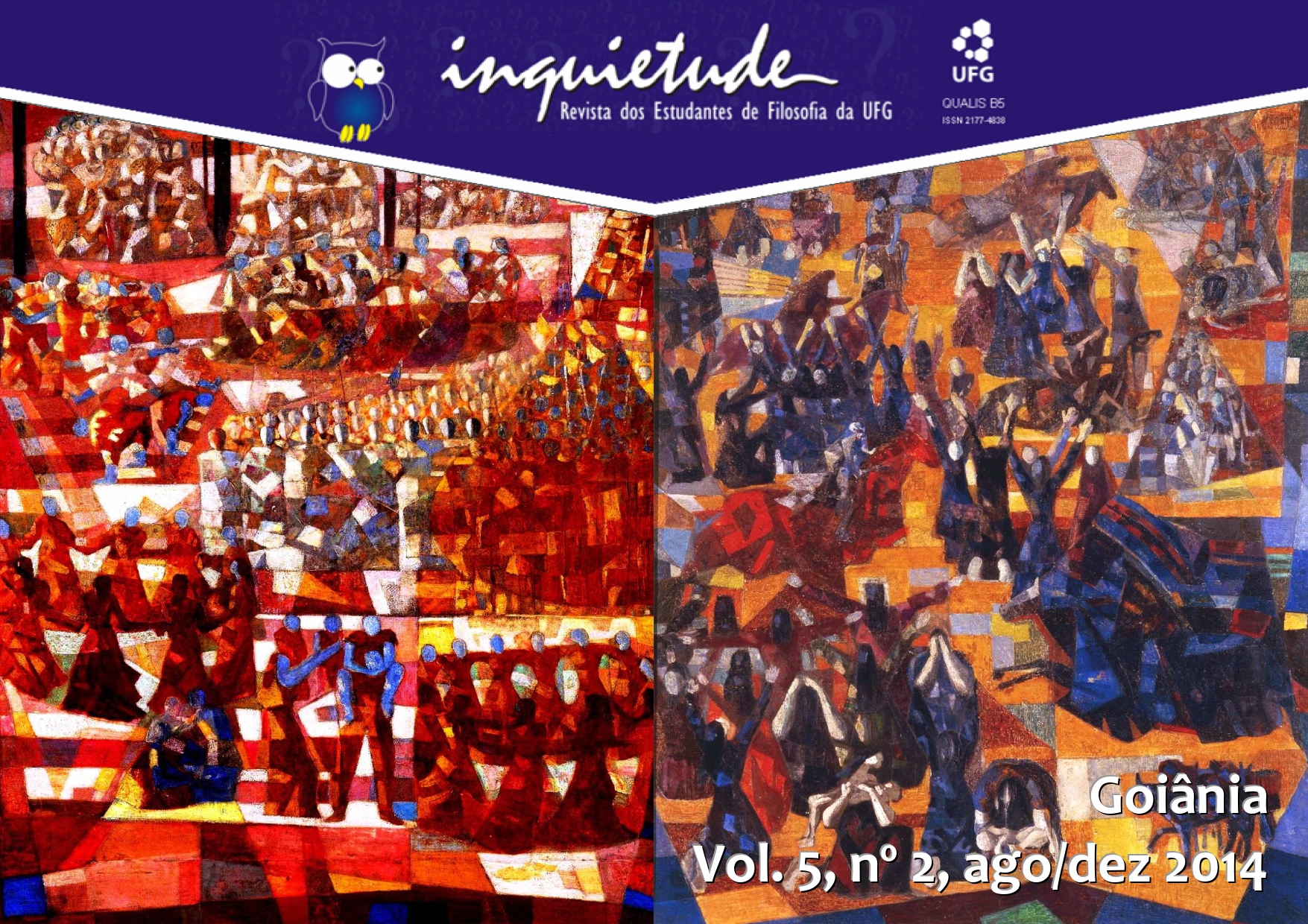
Dossiê Direitos Humanos e Multiculturalismo
v. 5 n. 2 (2014)Os textos que compõem este Dossiê foram elaborados durante o segundo semestre de 2013, no contexto da disciplina Pesquisa Orientada em Filosofia IV do curso de Bacharelado em Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). As características desta disciplina permitem às/aos alunas/os desenvolver uma pesquisa autônoma e aprofundada sob a orientação temática estabelecida pelo professor no início do semestre. Para este momento, no quadro de uma disciplina de caráter prático, foram propostas as questões pertinentes à ética global em suas possíveis nuances, tomando como pano de fundo as necessidades criadas pela contemporaneidade, cujos elementos supõem, entre outras coisas, um intenso intercâmbio cultural, uma globalização cultural, social e econômica, e uma responsabilização ético-política além-fronteiras. A questão norteadora das pesquisas estava inicialmente voltada às propostas cosmopolitas de uma ética global: sua necessidade, possibilidade e efetividade, sendo este o eixo central dos debates estabelecidos pela necessidade (ou não) de uma “ética global” ela mesma. Gravitando em torno desta proposta estavam ainda, inevitavelmente, os temas e problemas que aí aparecem concomitante ou concorrentemente: a problemática do multiculturalismo, a necessidade de uma justiça global, a necessidade de uma ética de assistência, as lutas por reconhecimento, o reconhecimento da igualdade e da diferença, a manutenção dos direitos humanos apesar da manutenção das diferenças culturais, a questão do patriotismo e da universalidade, e questões de base ligadas às noções de “cidadania”, “humanidade” e “dignidade”.
Diante da complexidade do tema, estava claro que o traçado de um amplo e exaustivo panorama seria irrealizável. Com o que alguns pontos da questão seriam priorizados sobre outros, cabendo a cada um investigar um de seus aspectos em particular, de acordo com uma escolha bastante pessoal - embora sempre justificada.
Assim, tomando como ponto de partida uma posição prévia a todo debate prático, a nível moral e político, o texto Ensaio sobre a natureza humana: Uma reflexão a partir de Abraham Maslow, de Jonas Muriel Backendorf, propõe uma investigação acerca da natureza humana a partir dos estudos psicológicos de Abraham Maslow, em vista de um aprimoramento moral da humanidade que pudesse prescindir, ao fim e ao cabo, de soluções regulamentadas e institucionalizadas para uma “convivência pacífica entre pessoas e povos”; alcançando uma maturidade psicológica que pudesse coexistir harmoniosamente com uma sociedade também mais madura, o indivíduo educado a realizar plenamente os seus potenciais, seus valores e sua integridade é o exemplo por excelência daquilo de que é capaz a natureza humana quando os seus interesses convergem com os interesses de todos - uma leitura contemporânea, mais próxima da psicologia do que propriamente da filosofia, de alguns pressupostos aristotélicos relativos ao cumprimento racional do caráter excelente, que não o pode ser em detrimento de sua função heurística e política.
Para além de uma proposta otimista e para além de uma tarefa de base relativamente àquilo que nos constituiria humanamente, ainda que potencialmente, pela paz, o diagnóstico do conflito é patente e inescapável, em todos os níveis. Mariane Gehlen Perin inquieta-se em compreender a gênese das diferentes posições defendidas contemporaneamente no escopo da própria ética global. Em seu texto A disputa entre cosmopolitismo, patriotismo e nacionalismo: Uma introdução geral ao tema trata de compreender estas noções em específico, num contexto histórico e filosófico, em prol de um entendimento alargado das pretensões de cada perspectiva nos debates de autoras/es contemporâneas/os tais como Habermas, Benhabib, Nussbaum, Rorty e Taylor, entre outros. O desenvolvimento do conceito de “cosmopolitismo”, desde as suas origens cínicas e estoicas, parece responder a uma preocupação de ordem moral mais do que política, mas que não deixa de influenciar as propostas teóricas e práticas, sobretudo para aquelas/es autoras/es preocupadas/os com o papel da educação na construção do significado de uma “humanidade compartilhada” (Nussbaum, principalmente). Como contraponto a esta perspectiva, Mariane traça um detalhado panorama acerca do desenvolvimento dos termos de “patriotismo” e “nacionalismo” e os riscos aí representados pela radicalidade do totalitarismo e do chauvinismo - um panorama que é de extrema relevância quando se trata de compreender as dificuldades enfrentadas pelo ensejo de uma “ética global”.
O diagnóstico do conflito permeia igualmente o texto de Guilherme Pinto Ravazi, A sociedade dos povos como solução dos conflitos internacionais. Diante do quadro belicoso das relações internacionais e da aparente impossibilidade de paz efetiva e duradoura, a proposta de uma Sociedade dos Povos - tal como pensada por John Rawls em O direito dos povos - é feita a partir de uma perspectiva kantiana. Trata-se, aqui, de investigar o desenvolvimento desta ideia desde o conceito de “federação de paz” tal como ele aparece n'A paz perpétua de Kant.
A questão norteadora para José Vicente Batista Wociechoski toca o ponto da efetivação e da concretude da justiça social através de uma análise dos direitos humanos - sua trajetória, seu alcance, bem como suas recorrentes violações. O texto Direitos humanos e a formação da identidade no atual paradigma cultural, aborda a conflituosa relação existente entre os direitos humanos universais, legalmente reconhecidos e garantidos desde a sua institucionalização, e a diversidade cultural, e o modo como este conflito incide sobre o reconhecimento da própria individualidade. Para o esclarecimento de tão complexo cenário, o autor investiga algumas questões de gênese nos direitos humanos – com Norberto Bobbio, principalmente – e o estado de coisas de um multiculturalismo enquanto fenômeno e enquanto proposta ético-política. O problema da construção identitária perpassa, assim, o reconhecimento da diversidade cultural frente à necessidade de universalização deste mesmo direito. Dentro desta problemática, o autor sugere como alternativa uma reflexão sobre o elemento transcultural presente em todas as sociedades, elemento que talvez nos auxiliasse a compreender a alteridade e que, assim, nos permitisse um respeito não-legalista aos direitos humanos para cada indivíduo em sua diferença.
Finalmente, o próprio conceito do “multiculturalismo” é examinado por Willian Martini, no texto O multiculturalismo e a diversidade no debate multicultural. Trata-se aqui de investigar as diferentes linhas de discurso e as diferentes propostas morais e políticas que pretendem compreender as dificuldades envolvidas no mundo contemporâneo globalizado. Figuram aqui, como autores de ponta, as análises de Charles Taylor, Will Kymlicka e Peter McLaren, para os enfoques do “multiculturalismo conservador”, “multiculturalismo humanista liberal”, “multiculturalismo liberal de esquerda” e “multiculturalismo crítico”. Do exposto, o autor percebe no multiculturalismo crítico proposto por McLaren a abordagem mais positiva a nível político, já que voltada a um projeto pedagógico em prol de uma vivência harmoniosa com a diferença. Caberia a esta educação em vista de novas relações sociais, uma profunda reflexão sobre a maneira como nós nos vemos como “uns” e “outros”.
Muitos detalhes poderiam ainda ser acrescentados à apresentação de cada um dos textos que compõe este Dossiê, e sobre a temática ela mesma, mas deixarei que falem agora por si mesmos. Para alguns destes autores a temática é já objeto de investigação continuada; para todos, no entanto, foi sem dúvida fundamental que o resultado dos seus textos pudesse figurar em uma publicação conjunta. Como ao longo da disciplina, suas perspectivas dialogam e se complementam. Um diálogo do qual a reflexão filosófica não pode prescindir em absoluto.
Janyne Sattler (UFSM)
-
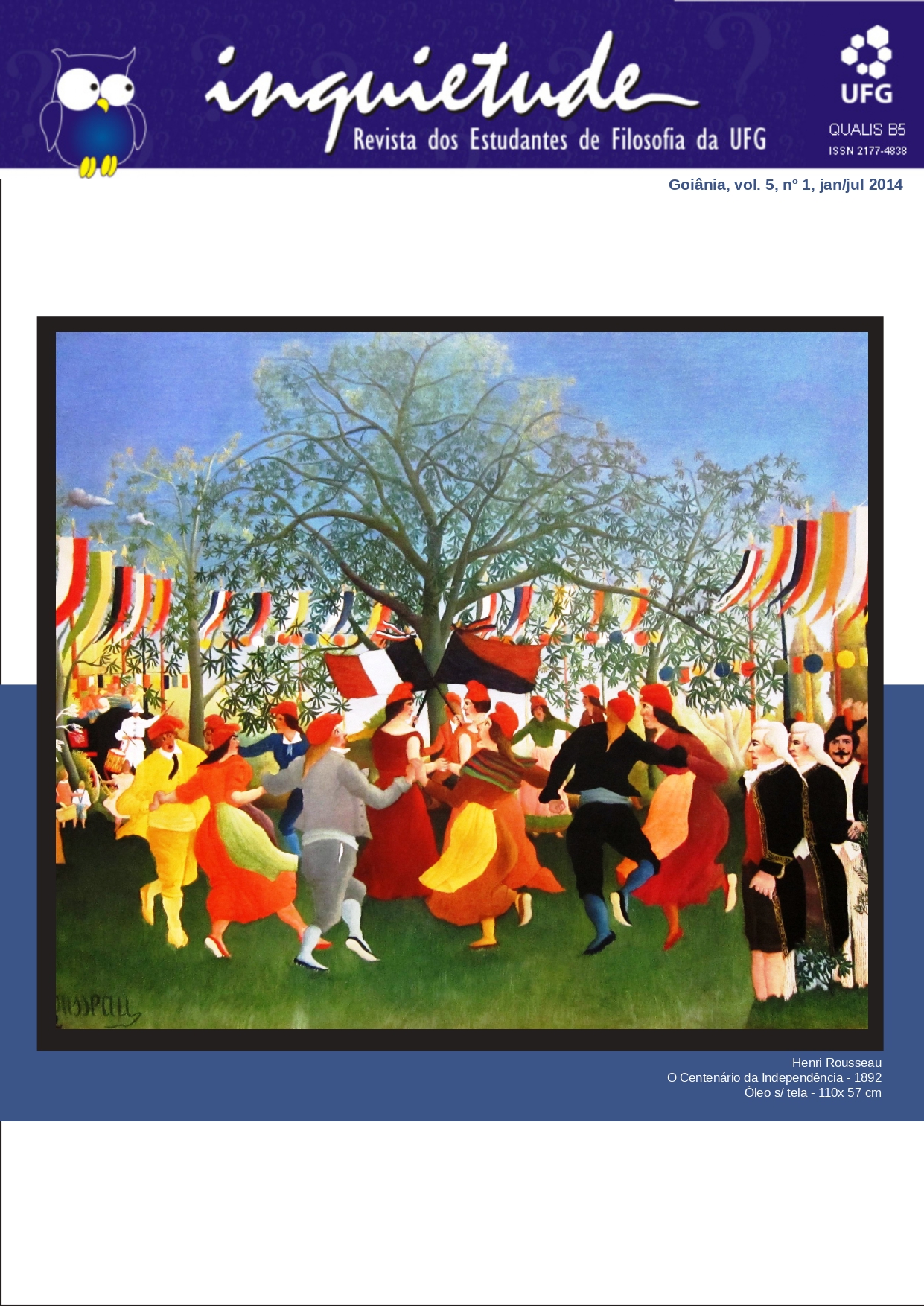
Dossiê Rousseau
v. 5 n. 1 (2014)Mantendo um de seus principais propósitos - o de acolher e incentivar o envolvimento de estudantes com a escrita e a participação em eventos relacionados aos cursos de graduação e pós-graduação em Filosofia da UFG - a Inquietude chega a sua nona publicação (v. 5, n. 1). Nesta edição apresentamos o Dossiê Rousseau com oito artigos selecionados do “VI Colóquio Internacional Rousseau: Festa e Representação” realizado na cidade de Pirenópolis/GO em junho de 2013. Também contamos com uma Seção Especial com três textos produzidos ao longo de uma disciplina ministrada na pós-graduação (2013/2) pela professora Adriana Delbó. Por fim, temos uma tradução inédita em português, elaborada por Pedro Labaig (colaborador da Inquietude) da última entrevista concedida por Michel Foucault, 27 dias antes de seu falecimento, publicada recentemente pelo jornal francês Libération; e também uma resenha (feita por Cícero Josinaldo, professor de filosofia em estágio pós-doutoral na Faculdade de Filosofia da UFG e bolsista do Programa Nacional de Pós-Doutorado/CAPES) sobre o livro Hannah Arendt e a modernidade: política, economia e a disputa por uma fronteira (Forense Universitária, 2014) do querido professor, e atual diretor de nossa Faculdade, Adriano Correia.
A seguir, temos dois textos elaborados como apresentação ao Dossiê Rousseau e à Seção Especial. O primeiro, escrito pelos próprios organizadores do VI Colóquio Internacional Rousseau, e o segundo pela Profª Drª. Adriana Delbó, para os textos elaborados na disciplina por ela ministrada.
A edição.
**********************************************************************************************
DOSSIÊ ROUSSEAU
O Grupo Interdisciplinar de Pesquisa Jean-Jacques Rousseau (CNPq), em conjunto com o Grupo de Trabalho Rousseau e o Iluminismo (ANPOF), realizou o VI Colóquio Internacional Rousseau “Festa e Representação”, o qual, reunindo mais de 120 pesquisadores – estudantes e professores, brasileiros e estrangeiros –, refletiu o trabalho acadêmico comprometido com a pesquisa e a formação de pesquisadores que vem sendo realizado há mais de 15 anos. Organizado pela Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás (UFG), em junho de 2013, na cidade de Pirenópolis - Goiás, o Colóquio marcou também o encerramento das homenagens aos 300 anos de nascimento de Jean-Jacques Rousseau.
Em que pese a temática geral do Colóquio “Festa e Representação”, visando acolher a multiplicidade do pensamento rousseauísta e propiciar a discussão aprofundada das pesquisas que estão sendo realizadas no âmbito dos cursos de pós-graduações, as comunicações foram apresentadas no marco da discussão das linhas de pesquisa do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa Jean-Jacques Rousseau: 1) moral, política e sociedade; 2) estética, literatura e subjetividade; 3) cultura e formação. Os artigos que agora trazemos a público, no Dossiê Rousseau da Inquietude, refletem estas temáticas e oferecem ao leitor uma pequena mostra das comunicações apresentadas por alunos de pós-graduação durante o VI Colóquio.
Propomos ao leitor do Dossiê Rousseau iniciar a leitura pelo artigo de Anderson dos Santos acerca do tema da soberania, um tema tão caro quanto controverso na filosofia política. Partindo do tema da guerra na obra O direito da guerra e da paz de Hugo Grotius, Anderson apresenta o conceito de soberania para este autor e o confronta com a concepção de Jean-Jacques Rousseau em Do contrato social, o qual defende que a soberania pertence ao povo e que essa deve ser exercida em conformidade à vontade geral. A soberania do povo que se manifesta por meio da vontade geral é o eixo central do pensamento político rousseauísta, embora a formação da vontade geral seja objeto de polêmicas entre os estudiosos. Neste sentido, o artigo de Lucas Ribeiro, que problematiza a tarefa do Legislador, contribui para essa discussão. Buscando esclarecer a distinção conceitual entre persuadir e convencer, o artigo propõe-se a fornecer alguns aportes para a compreensão da natureza da linguagem do Legislador, bem como explicitar os efeitos por ela visados.
Na sequência, Nairis de Lima, tendo como referência a passagem do estado de natureza ao estado civil descrita no Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, apresenta uma espécie de genealogia da propriedade contrapondo Rousseau, para quem a propriedade implica o surgimento da desigualdade entre os homens e as principais mazelas do convívio social, a Locke, que defende ser a propriedade um prolongamento do indivíduo. A posição crítica de Rousseau à propriedade privada o fez reconhecido como um dos primeiros críticos da sociedade burguesa, a qual lhe aparece como o ponto de culminância de um processo de desvirtuamento e de alienação do gênero humano. Seguindo essa linha argumentativa, André Ferreira aproxima o pensamento de Rousseau ao de Marx demonstrando que a crítica à propriedade privada desempenha um papel semelhante na argumentação de ambos os autores, posto reconhecerem no processo de desenvolvimento da propriedade privada a realização da alienação dos homens em relação às suas próprias forças essenciais, naturais. Partindo do pressuposto de que a desigualdade é um problema extremamente grave e responsável por degradar os regimes políticos, Vital Alves analisa os efeitos da desigualdade no âmbito do Estado republicano, a fim de discernir suas prováveis consequências e discutir se Rousseau sugere medidas ou providências para protelar o vir-a-ser da desigualdade.
O Dossiê apresenta ainda uma discussão acerca dos temas da moralidade, da formação e da subjetividade. Gabriel Antunes dedica-se à análise do controverso conceito de perfectibilidade humana no pensamento de Rousseau, discutindo a relação entre a ruptura irreversível com a felicidade original do homem, no seu processo em direção ao estado civil, e a assunção da vida moral enquanto exercício de virtudes. Argumentando que é preciso muita arte para conciliar natureza e sociedade a fim de impedir que o homem social degenere completamente, Homero Souza Filho tematiza a educação e a filosofia como artifícios fundamentais para a formação do homem, a partir da análise do Emílio. Finalmente, o artigo de Natália Carminatti estuda o tema da memória e da reconstituição das lembranças em Les rêveries du promeneur solitaire. Com base em estudos psicanalíticos, discute a importância do desvelamento de lembranças esquecidas (ou mascaradas pelas repressões sociais) para o entendimento do próprio ser.
A diversidade de temas tratados pelos artigos e as inter-relações que surgem ao/à leitor/a, na medida em que passamos de um texto para o outro, mostra, ao mesmo tempo, a riqueza e a dificuldade de conhecer e interpretar o pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Na expectativa de contribuir com as discussões, oferecemos às/aos leitoras/es da Inquietude o Dossiê elaborado a partir do VI Colóquio Internacional Rousseau.
Organização:
Profª. Drª. Helena Esser dos Reis
Profª. Drª. Marisa Alves Vento
Prof. Dr. Renato Moscateli**********************************************************************************************
SEÇÃO ESPECIAL
Elos e oposições entre cultura, política e formação em NietzscheNa Seção Especial deste número da Inquietude temos o orgulho de publicar três artigos cuja elaboração se deu ao longo da disciplina Elos e oposições entre cultura, política e formação em Nietzsche ministrada no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Goiás, no 2º semestre de 2013. Isso nos honra não só por poder compartilhar com as/os leitoras/es a qualidade de textos que buscam sistematizar os pensamentos inquietantes ocorridos durante o percurso da disciplina, mas também porque a escrita, uma atividade duradoura, exigente, indispensável, inusitada, e como momento privilegiado para os movimentos do pensamento, não pode ser um evento repentino e isolado. Pelas exigências decorrentes do processo de criação inerentes à escrita, ao envolverem-se com ela, as/os estudantes desocupam o lugar cômodo de ouvintes de aulas – lugar importante, mas um tanto insuficiente para o trabalhoso movimento do pensar. Ingressando em um patamar ao menos mais amplo e mais rigoroso, às/aos estudantes cabem incontáveis vezes ler, reler, perguntar e perguntar-se, continuar com dúvidas, buscar respostas, refazê-las, lidar com a insatisfação, organizar as ideias, reorganizá-las, sistematizar o que circunstancialmente conseguiram pensar.
A escrita é o estudo; não é prestação de contas. A obtenção de notas/conceitos é mero resultado de um envolvimento autoral das/os estudantes com as disciplinas cursadas. Mais do que cumprimento burocrático de uma exigência posta pelas grades curriculares, cursar uma disciplina pode ser o momento de formação de estudantes: tempo e espaço para ler, ouvir, reler, ter dúvidas, poder expô-las, poder escrever compreensões, ter leitoras/es, receber críticas, correções e contribuições. Por fim, reescrever e momentaneamente finalizar um estudo. A todo instante o enfrentamento com a desordem dos pensamentos movimentando-se para a feitura daquilo que as Instituições de Ensino exigem e, portanto, precisam ofertar: a condição para o pensamento escrito, o texto.
No artigo Nietzsche, a cultura e a formação de si: Da arte do estilo à arte de tornar-se quem se é, Carmelita Brito de Freitas Felício compartilha com as/os leitoras/es o que conseguiu sistematizar a partir de seus estudos no decorrer da disciplina: como a crítica de Nietzsche à cultura mobiliza compreensões acerca da ideia de formação de si. Se a cultura passa pelo cultivo de um “tipo homem”, de que modo podemos “nos tornar o que somos”? E, o que somos!? O artigo oferece aos leitores a compreensão alcançada em torno da ideia de estilo como criação de si, vínculos entre cultura e criação, entraves entre educação e autoformação.
No artigo Acordando do sonho ou repetindo o pesadelo? A cultura superior em Nietzsche sob as críticas de Agamben, Pedro Lucas Dulci disponibiliza às/aos leitoras/es a análise alcançada a respeito da limitação da cultura ocidental tendo em vista a despotencialização da vida. Está em questão a leitura que Agamben fez de Nietzsche, entretanto as preocupações comuns a ambos pensadores só têm a oferecer a compreensão no que tange à indissociabilidade entre vida, criação e cultura.
No artigo Nietzsche: A crítica da metafísica e o corpo como ponto de partida, o Edson Prado nos traz uma compreensão da noção nietzschiana de corpo, articulando-a com a crítica de Nietzsche à metafísica, tendo como pano de fundo a sua preocupação com a cultura.
Textos em disciplinas. Disciplina para textos. Disciplina para dúvidas, exposições, compreensões e incompreensões, sistematizações. Leituras inebriadas de envolvimento com questões provocadas em disciplina. Disciplina fora da disciplina. Eis o desafio do árduo, mas empolgante trabalho realizado entre estudantes e professoras/es.
Adriana Delbó
-
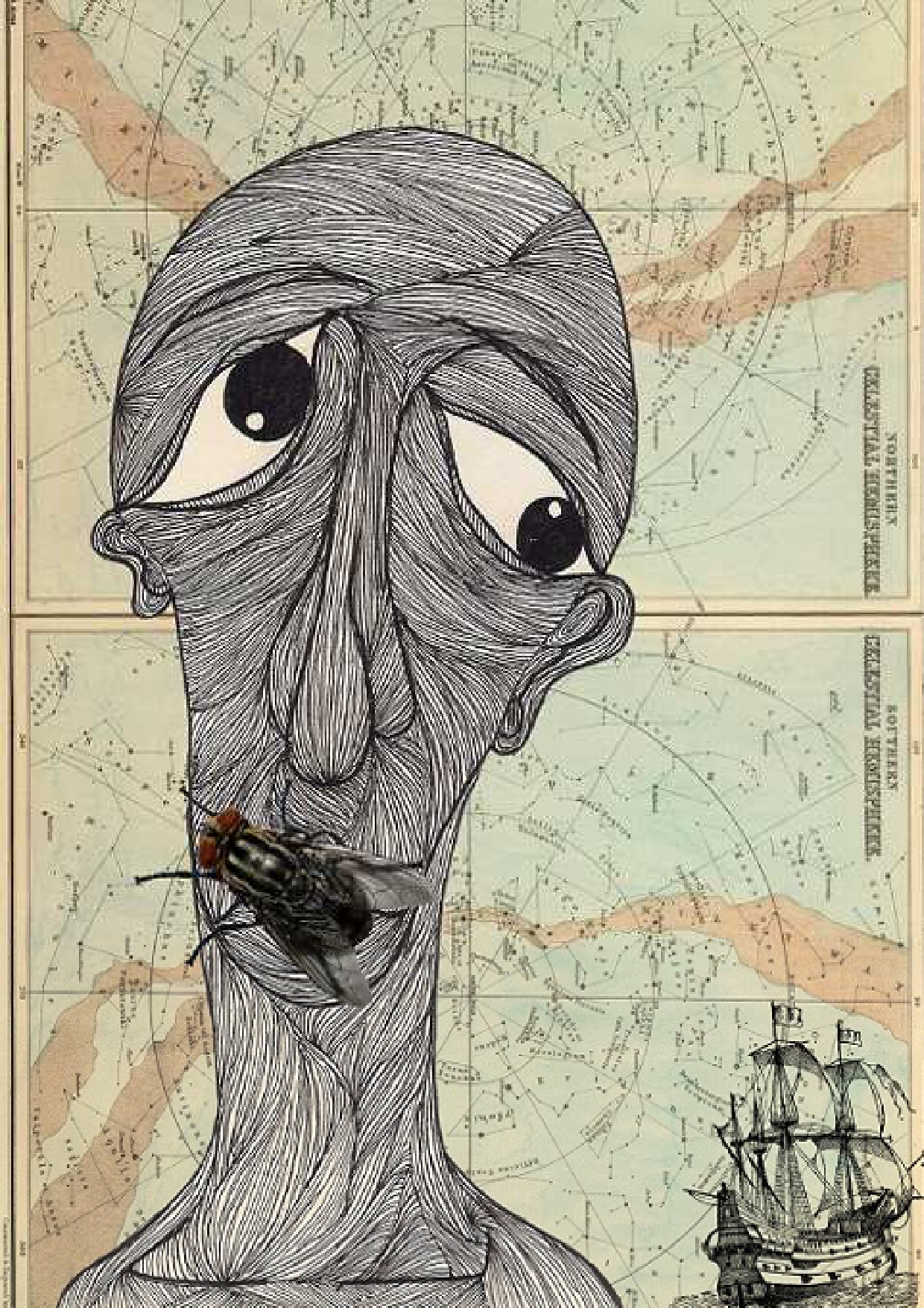
v. 4 n. 2 (2013)
As primeiras palavras não são, necessariamente, as mais importantes. Ainda assim, cabe a elas ditarem a continuidade e o ritmo da leitura. Aqui temos o privilégio de convidá-los à leitura de mais este número da revista Inquietude, fruto de uma seriedade inerente ao universo da pesquisa acadêmica aliada à efervescência de jovens pesquisadoras/es na área da filosofia. Compromisso que gera, naturalmente, resultados os mais satisfatórios. Lembramos que, recentemente, obtivemos a qualificação Qualis B5 - o que dá mais importância e notoriedade à revista - isto fomenta o interesse com o qual nos procuram estudantes de filosofia de várias partes do país.
Nessa edição contamos com oito artigos, uma seção dedicada à Semana de Filosofia, duas entrevistas [respectivamente por Willian Bento Barbosa e Nádia Junqueira Ribeiro] com importante pesquisador/a em Hannah Arendt – Adriano Correia e Yara Frateschi – além da parte destinada à divulgação dos resumos de monografias e dissertações de discentes que concluíram o bacharelado e o mestrado em filosofia na UFG. Na capa temos uma criação de Andréia Ferreira - graduada em filosofia - representando o disforme. Uma contradição a princípio, pois os textos devem se enquadrar em uma série de exigências formais para sua submissão e consequente veiculação. Contudo, não há formalidade que impeça que o disforme surja como uma inquietação no próprio conteúdo daquilo que é escrito. Não raras vezes, disforme é o que encontramos como pensamento filosófico, se comparado ao mundo que nos cerca. Mas que outra opção teríamos a partir de um contexto tomado pela passividade em que o perverso do real estranha menos que uma deformidade do pensamento?
No artigo inicial A gênese antropológica da religião em Ludwig Feuerbach [de Felipe Assunção Martins] temos uma reconstrução teórica da origem humana de Deus, bem como uma crítica acerca da alienação religiosa. O artigo nos ajuda a pensar em como a verdade antropológica de Deus e da religião, segundo Feuerbach, tem como princípio uma teoria da consciência e essência humanas. O filósofo compreende o homem enquanto ser consciente de seu gênero.
Em A relação entre sentimentos e o estudo da moral [de Ana Gabriela Colantoni] o/a leitor/a vai se deparar com diferentes perspectivas filosóficas acerca da noção de prazer, e como as ações que proporcionam o prazer se relacionam com as questões morais nas obras de Aristóteles, Kant e Mill. Em seguida, a contribuição dos filósofos alemães Hegel e Nietzsche para a instauração de um ethos cristão, e as características que conduzem a filosofia hegeliana a uma filosofia de plenitude, é o tema do nosso próximo artigo [de Adilson Felicio Feiler], intitulado O ethos cristão em Hegel e Nietzsche a partir dos conceitos de “destino” e “amor”.
Já em Das artes de governo de espírito cativo: Pontos de encontro entre Nietzsche e Foucault [de Walquiria Pereira Batista] temos um estudo que aponta uma possível aproximação dos pensamentos de Friedrich Nietzsche e Michel Foucault quanto à constituição do Estado moderno e de um novo sujeito. Enquanto Foucault analisa o surgimento das artes de governo tendo como viés a construção da subjetividade moderna, Nietzsche pensa o conceito de espírito cativo em que o indivíduo, em busca de uma suposta paz, seria forjado pela modernidade.
Embora a ontologia de Paul Ricouer mantenha o agir humano como centro, existe uma tentativa de se manter plural, no que diz respeito aos mais diversos modos de dizer o si. O caráter especulativo de sua ontologia, bem como o direcionamento de entendimento da manutenção de si a partir da relação com a alteridade está presente no artigo A ontologia do agir de Paul Ricoeur: Alteridade e pluralidade [de Sabrina Ruggeri]. Já o artigo Uma fenomenologia da existência: Sobre A dúvida de Cézanne de Maurice Merleau-Ponty [por Luana Lopes Xavier] tem por objetivo analisar a proposta da pintura de Cézanne, bem como a relação existência-arte presente em sua obra à luz do pensamento de Merleau-Ponty.
O momento histórico de revitalização do pragmatismo americano e as decorrências desse movimento acrescido do instrumental linguístico da filosofia pós-analítica é tratado em A revitalização do pragmatismo americano na década de 1970: A virada pragmático-linguística de Richard Rorty [por Flávio Oliveira]. E, por fim, temos o último artigo dessa seção intitulado Sobre a perenidade da exceção: O caso do estado de Goiás [por Pedro Penhavel]. No presente artigo o autor se apropria de conceitos da filosofia política de Walter Benjamin e Giorgio Agamben e da análise de sociólogos como Francisco de Oliveira e Loïc Wacquant para tratar a questão da supressão de direitos fundamentais e a escalada da violência policial em Goiás durante o período pós-ditadura militar.
No espaço destinado à Semana de Filosofia temos o artigo Arte e política no pensamento de Jean-François Lyotard [de Rafael Silva Gargano]. No presente texto, o/a leitor/a da Inquietude será levado/a a compreender as raízes das discussões estéticas presente na filosofia de Lyotard, bem como seu desconforto pertinente à teoria marxista de sua época. Tal desconforto, diga-se, é fundamental para a compreensão da relação que o filósofo estabelece entre arte e política, evidenciadas no ensaio Notas sobre a função crítica da obra de arte, publicado em 1970. Em A teoria da vontade de poder enquanto caráter da existência [por Eder David de Freitas Melo] podemos observar que, na concepção nietzschiana que trata do mundo, e tudo o que nele há, é tão somente vontade de poder. Dentro desta perspectiva, o artigo nos traz uma análise de alguns aspectos desta teoria da vontade de poder, contribuindo, assim, para compreendermos como o filósofo alemão - Friedrich Nietzsche - se utiliza de um mesmo arranjo conceitual para qualificar toda a existência.
Esperamos que a leitura até agora tenha motivado nossas/os leitoras/es para que prossigam através dos textos aqui veiculados. Ainda aproveitamos para agradecer a todas as pessoas que nos submeteram textos para avaliação. A quem não teve o texto publicado, pedimos para que considerem o retorno dado através dos pareceres, para que possam, em momento oportuno, enviar-nos novamente para possível veiculação. A todas/os as/os professoras/es da Faculdade de Filosofia e do Curso de Filosofia do Campus de Goiás o nosso agradecimento pelo incentivo e por toda colaboração a nós destinada. Às/os professoras/es que se ocuparam de nos fornecer pareceres externos, queremos salientar que este número não seria possível sem o rigoroso trabalho que envolve a realização de seus pareceres. À equipe editorial – acrescida agora pelos discentes Eder David de Freitas, Regis Lopes e Samarone Oliveira – pelo constante envolvimento e dedicação.
Não poderíamos deixar de nos dirigir ao Grupo de Estudos em Biopolítica da Faculdade de Filosofia da UFG que nos concede espaço para o lançamento desta edição no IV Colóquio de Biopolítica e, mais que isto, tem colaborado para promover nossa revista incentivando a publicação de textos apresentados nos colóquios realizados pelo Grupo, como é o caso do Dossiê Biopolítica publicado na edição (v. 3, n. 2) de 2012. Reforçamos, ainda, o convite para a submissão dos trabalhos apresentados neste colóquio para avaliação e publicação no próximo número, a ser lançado em julho de 2014.
Reportando-nos novamente ao belíssimo trabalho que aparece como capa desta edição, esperamos que a expectativa da inquietação possa nos impulsionar como aqueles que não se formalizando de imediato com um mundo que nos é dado, anunciam o disforme contido nos questionamentos que ora nos incomodam.
E, por fim, um agradecimento, insuficiente, a uma pessoa muito especial, um artista, um criador não só de significativas e inquietantes belezas artísticas: Pedro Labaig. Mesmo depois de ter concluído o curso de Filosofia na UFG, ele continuou sendo o responsável pelo árduo trabalho de cuidar da arte final e da diagramação da Inquietude. À distância, em Paris, em meio à pintura de seus belos quadros e do seu mestrado em Filosofia, ele se manteve entre nós com seu modo colaborador, participante, responsável, um gentleman, como sempre se mostrou. Como parte muito pequena do nosso agradecimento, tentaremos agora andarmos com nossas próprias pernas, para desencarregar o Pedro de mais esta tarefa. Contudo, por sua grandeza, ele já se fixou na memória da nossa revista.
A Edição