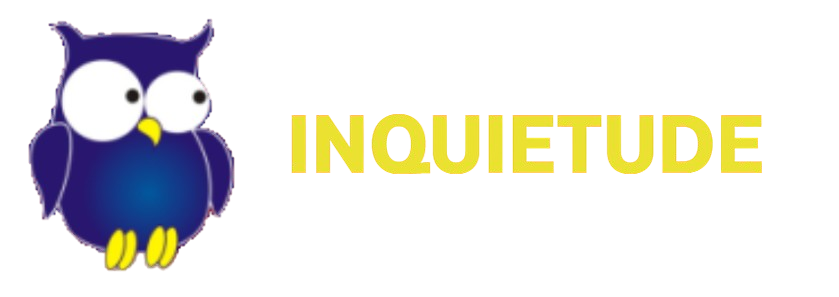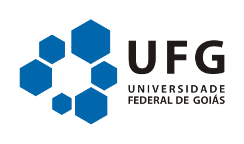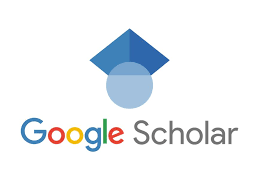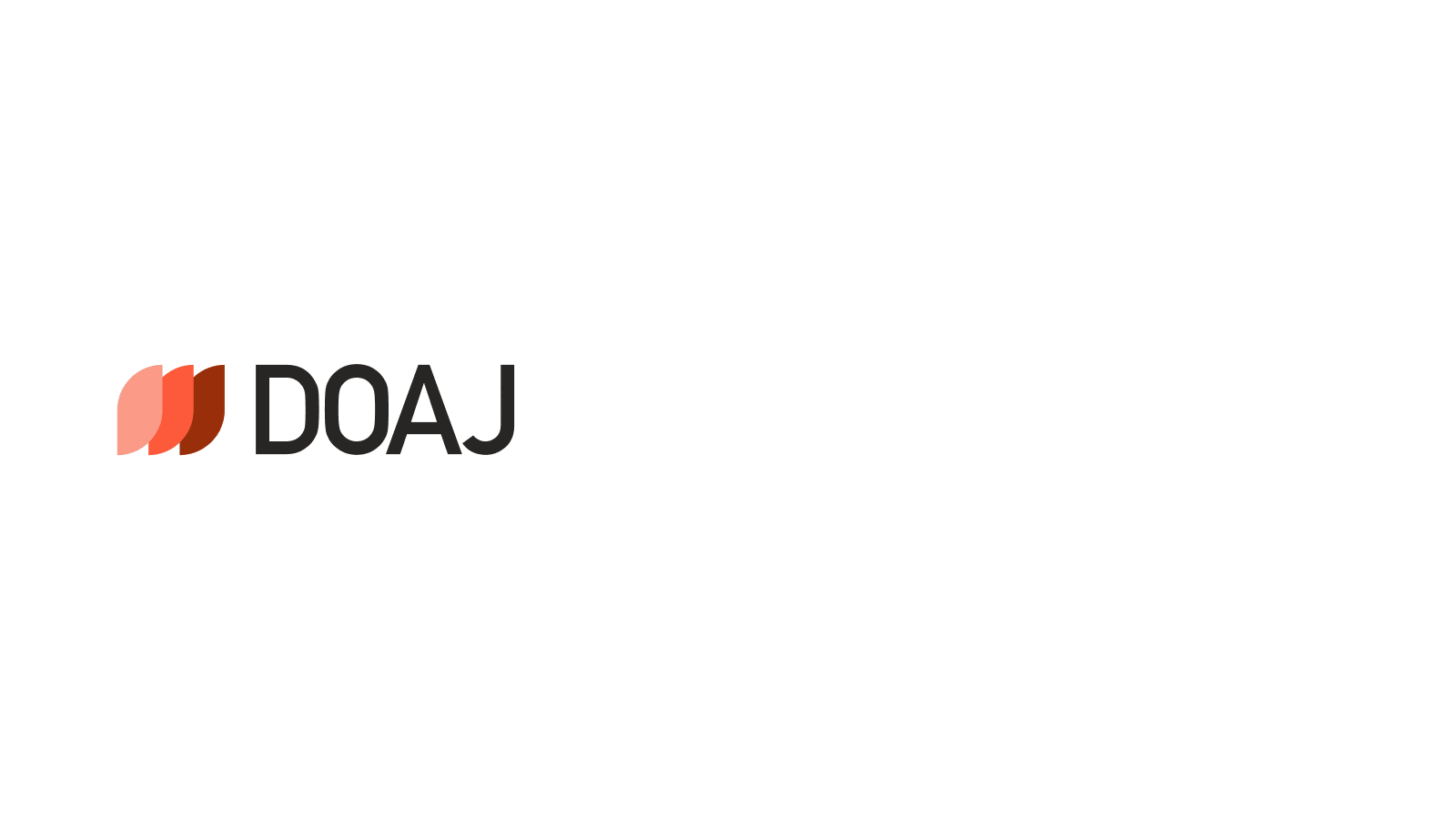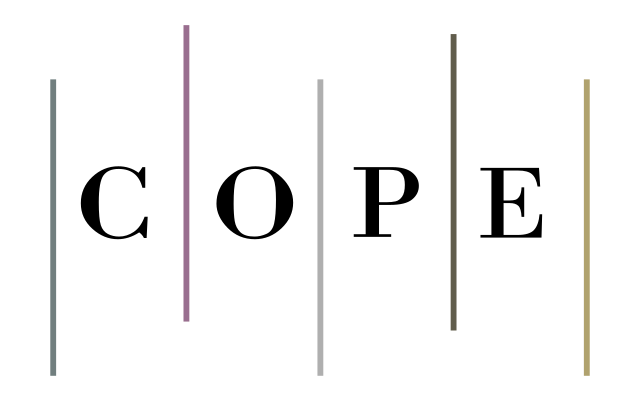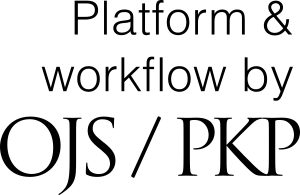v. 11 n. 2 (2020)
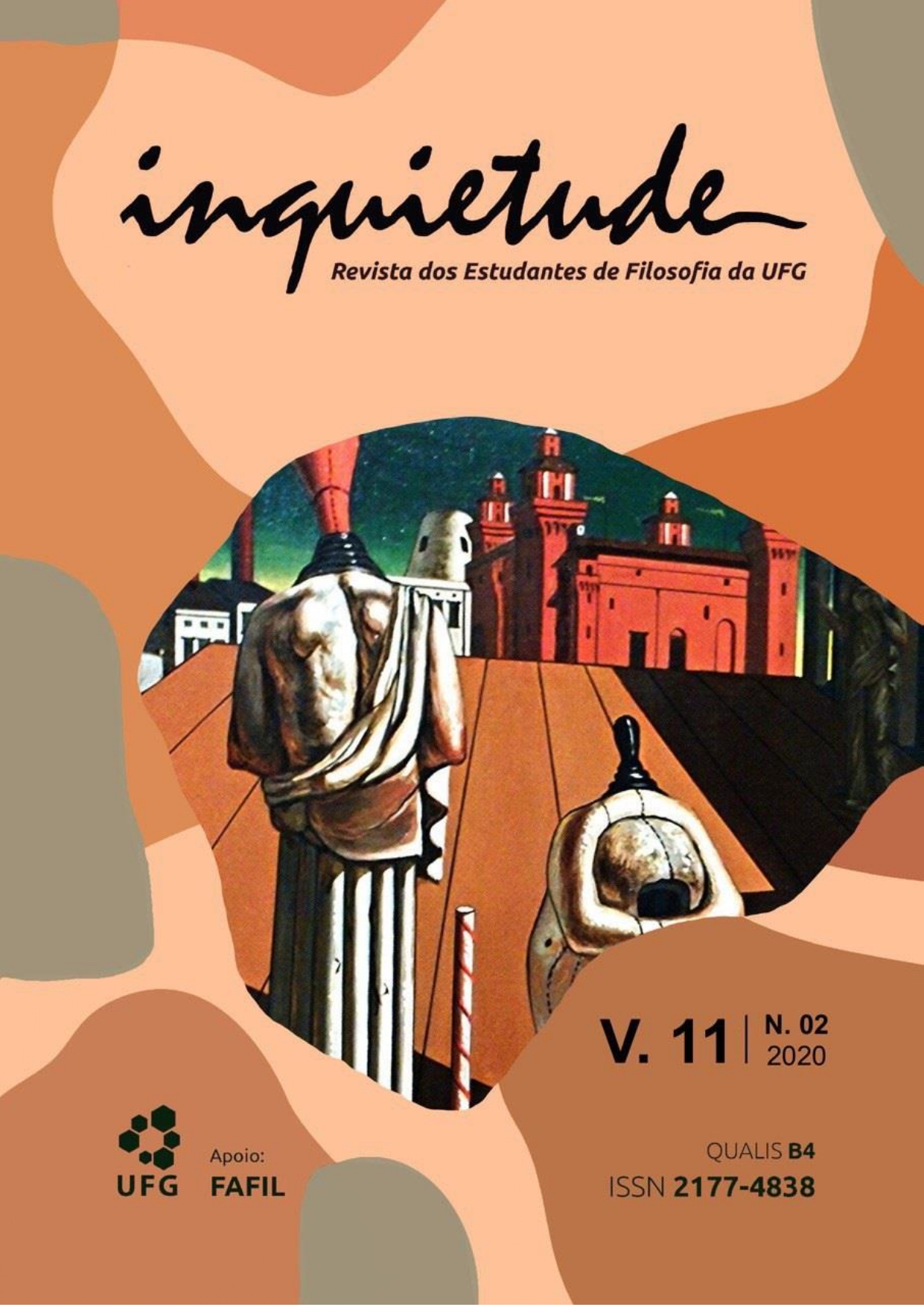
Os desafios enfrentados para a manutenção de um periódico de humanidades são inúmeros e continuamente reforçados por políticas que irresponsavelmente desconsideram a importância social das ciências humanas; com a revista Inquietude não é diferente. É considerando o contexto político que a entrevista com Heitor Pagliaro, atual editor executivo da Inquietude, nos comove e nos inquieta. Desde a sua criação – ele diz –, a revista busca ser um lugar de fala, um espaço que é importante inclusive para o desenvolvimento das demais ciências: “se quisermos que a ciência brasileira tenha maior competitividade internacional e que as revistas brasileiras tenham maior ‘fator de impacto’, precisamos valorizar o trabalho de editoração científica feito no país, com financiamento e infraestrutura”. Heitor Pagliaro, que acompanha a revista desde sua criação, encerra as comemorações pelos 10 anos da Inquietude.
Os artigos desta edição têm como escopo os temas da metafísica e da teoria do conhecimento. Quem abre a nossa série de artigos cuidadosamente selecionados é uma mulher, Tatiana Betanin, trazendo A compreensão heiddegeriana do conceito de metafísica. Ainda que ela trabalhe com termos específicos, a compreensibilidade do texto é louvável. Tatiane Betanin, ao mesmo tempo em que destrincha e alinha conceitos, questiona formulações. Esse movimento lhe permite, junto a Heidegger, responder à equação meta + física, cujo resultado é a própria filosofia. Além da exímia explicativa, ao conceituar a metafísica segundo Heidegger, o ponto alto da autora está na reavaliação do que seja o filosofar. A ideia de estranhamento, espanto ou, como ela coloca, a inquietação, é a ferramenta necessária “para filosofar nesses novos tempos”.
A discussão sobre Heidegger retorna no artigo de Raphael Pegden, agora focada numa crítica à metafísica da substância e à metafísica do sujeito, que acompanha uma crítica às teorias do conhecimento de Descartes, Kant e Husserl. A destruição da história da ontologia, proposta po Heidegger, diz de uma ontologia que obscurece a pergunta originária sobre o ser. A ontologia fundamental se apresenta, então, como plano de fundo de toda ontologia e ressurge mediante essa destruição do que foi petrificado pela história. Retraçar o caminho percorrido pela história da filosofia é fundamental para fundamentar essa crítica, e ao fazê-lo, Raphael Pegden delineia o abismo entre a ontologia fundamental e o que Descartes propõe como ontologia no cogito, onde o ser da substância não pode ser conhecido. A res extensa não resolve o problema para Heidegger, pois permanece a questão da presença e dos entes intramundanos. Assim, “a crítica de Heidegger consiste então em mostrar que o espaço não é um lugar e que o mundo não é um objeto [...]: todos nós existimos de tal forma que somos num mundo, afirma Heidegger”. A crítica a Kant se formula a partir desse mesmo ponto: o sujeito transcendental pressupõe o sujeito como fundamento epistemológico para a problemática, esquivando-se ao ser-no-mundo, ou ser com o mundo.
A próxima questão que trazemos diz respeito ao filósofo Schopenhauer. Em A incorporação da ideia platônica no sistema metafísico de Schopenhauer, Jefferson Teodoro amplia conceitos importantes da metafísica e, ao mesmo tempo, dedica-se a detalhes importantes para a elaboração de seu argumento. Pontuando os pormenores da teoria platônica e das evidentes diferenças no modo de fazer filosofia, o autor vai do princípio da razão, contido na Ideia platônica, ao materialismo racionalizante de Kant. A conexão entre Platão e Kant dá-se, segundo Schopenhauer, pela relação entre Ideia e a coisa em si, mas a superação da leitura kantiana de Platão é a grande virada do texto. No conceito de impulso cego da Vontade, o autor mostra como a Teoria das Ideias de Platão também está alheia ao princípio da razão. O novo sistema proposto por Schopenhauer fica assim fundamentado, e a representação imediata, ou seja, aquela livre do princípio da razão, leva o texto para uma discussão sobre o belo.
Já Douglas de Jesus, em Kant e o testemunho, trabalha os conceitos de reducionismo e não-reducionismo para cumprir com o dualismo entre validação e negação do testemunho, ou seja, entre a verificação sobre aquele que testemunha e a apresentação de evidências para rejeitá-lo. Em poucas palavras, os reducionistas são aqueles que “defendem que é necessário que a base racional para o testemunho seja reduzida a outras fontes de crença (memória, percepção ou raciocínio inferencial)”, e os não-reducionistas, aqueles que “rejeitam a tese da necessidade da redução, embora possa haver não reducionistas que aceitem a possibilidade de redução”. O autor transita entre esses conceitos com ajuda de espitemólogos/as – como ele mesmo escreve – até chegar a Kant, quando a questão sobre a validação do testemunho afunila-se. Ao compor o “pensar por si mesmo”, poderíamos afirmar que Kant é um reducionista? É preciso analisar a proposição em questão sob uma perspectiva mais abrangente, tarefa que Douglas de Jesus cumpre com destreza.
O próximo texto é de Luis Oliveira que, n’Os limites do hilemorfismo e o conceito de transubstanciação em Tomás de Aquino, parte da Física de Aristóteles para falar sobre o que é a substância e o que é a transubstanciação. A escrita prende-nos ao texto, que se guia por uma colocação cristã: a presença do corpo e do sangue de Cristo durante a missa. São diversas possibilidades de questões a respeito dessa presença e, para cada resposta, novas questões são postas. Por exemplo, saber se há ou não a presença do corpo de Cristo no pão e no vinho, e se há essa presença, como fica a matéria pão e vinho? Enfim, as diversas questões que podem ser formuladas a partir desse ato simples mostram como a religião é fonte de filosofia, ao mesmo tempo que mostram como a filosofia se distanciava, em suas discussões, do próprio ato de fé.
Esta edição da Inquietude também conta com um texto com uma escrita experimental, produzido por Hercules da Silva Neto. Em Nietzsche e ciência: Viver experimental, o autor assume o estilo de Nietzsche e nos propõe adentrar à liberdade que irrompe os grilhões dos padrões, inclusive na forma de se pensar a ciência. É preciso flexibilidade para compreender o propósito do texto, que se direciona exatamente para esse ponto: tornar-se flexível. É nesse sentido que ideia e linguagem encontram-se, trazendo à tona um texto eminentemente transformador.
Para finalizar, o editorial decidiu por trazer a segunda autora desta edição: Elisa Oliveira. Ela, que transita entre filosofia e psicologia, ousa uma crítica à tradição da psicanálise, crítica essa que é construída a partir da filosofia de Nietzsche. Liberdade em Nietzsche: Uma crítica à teoria psicanalítica do desejo é um artigo terapêutico, pois a leitura traz o desejo de lançar-se em horizontes desconhecidos, abandonando caracterizações doentias determinadas no decurso da vida. A autora diz um novo modo de pensar a psicanálise que, pairando sobre o porvir, emancipa-se e redescobre-se.
Esta é uma edição aguardada que foi elaborada com esmero nos seus detalhes. A imagem escolhida para a capa é a pintura de Giorgio de Chirico, que fez parte de um movimento chamado “pintura metafísica”. As musas inquietantes gloriosamente ilustram esta edição, que fala sobre política, sujeito, igreja e liberdade, que questiona a razão, a história e o porvir. O tema da metafísica mostra-se amplo e aberto, e uma edição que se propõe a tanto sempre será inquietante. Esperamos que a leitura seja engrandecedora.
Atenciosamente,
A Equipe Editorial da Inquietude.
Angélica Carvalho Sant’Anna